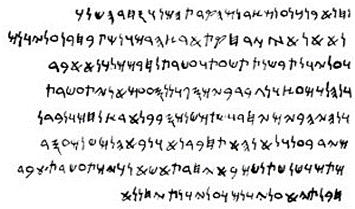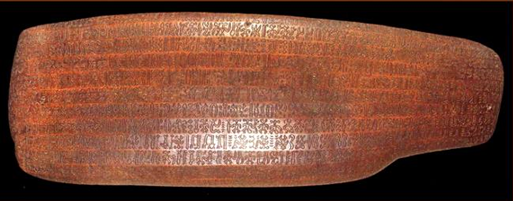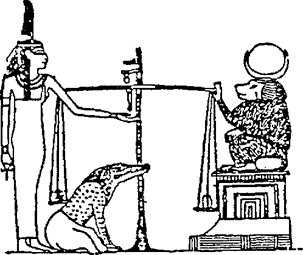“Em mim todas as coisas estão enfiadas como pérolas em um fio.” (VYASA)
Resumo
O sítio de arte rupestre das Itaquatiaras do rio Ingá, reúne representações em baixo relevo na composição de grandes painéis de arte rupestre associado à tradição Itaquatiaras que, dominou um ambiente natural formado por rochas e água, transformando-o para fins sociais, sagrados, culturais e artísticos com um padrão estético particular em técnica de expressão e de conceitos simbólicos. A beleza e a complexidade das Itacoatiaras do Ingá parecem exigir do arqueólogo respostas que, dificilmente poderia dar. Por isso, muitas hipóteses foram levantadas por eruditos, pseudocientistas e estudiosos do mundo inteiro, estendendo a fama da Pedra do Ingá pelo místico e criando muitas relações entre as Itaquatiaras e as comunidades da região. A pesquisa teve como objetivos analisar as diversas concepções sobre a ornamentação das Itaquatiaras do Ingá, discutindo os aspectos místicos, sagrados e científicos envolvidos nessas suposições, estabelecendo relações entre os signos da Pedra do Ingá e outras inscrições da arte rupestre conhecida no Nordeste do Brasil. A metodologia consistiu de um levantamento bibliográfico, na leitura, análise dos textos, redação e elaboração de uma produção textual que, possibilitou a discussão dos achados e a elaboração de uma conclusão que, sem negligenciar o caráter científico desse desfecho, buscou não negar o valor da imaginação na elucidação da pré-história nordestina e brasileira.
Palavras-chave: Pré-história, mitos, ciências, arqueologia, Ingá.
1 Introdução
Como conjunto gráfico homogêneo na técnica, na organização do espaço gráfico e, na iniludível mensagem que o painel gravado transmite, os petróglifos das Itaquatiaras do Ingá são um caso único, pelo uso peculiar de representações em baixo relevo na composição de grandes painéis de arte rupestre, os quais revelam o gênio criativo de um grupo humano associado à tradição Itaquatiara[1] que, dominou um ambiente natural formado por rochas e água, transformando-o para fins artísticos, sociais, culturais e sagrados, manifestando um padrão estético singular em técnica de expressão e de conceitos simbólicos (IPHAN, 2020[2]; MARTIN, 2013; PESSIS et al., 2019).
As
pesquisas arqueológicas no interior do Nordeste brasileiro têm confirmado a
importância que essa região exerceu sobre inúmeros grupos humanos que a
ocuparam. Nos abrigos sob rochas da região, esses grupos pintaram suas paredes,
fizeram suas fogueiras para assar seus alimentos, enterrarem seus mortos e
também gravaram em pedras no leito de rios e riachos. Esse patrimônio cultural
tem fornecido rico material para a constituição da memória desses grupos
humanos no campo de estudo da arqueologia (BRITO, 2013[3]).
A educação patrimonial pode usar lendas e mitos para promover a cidadania sobre o patrimônio arqueológico nas memórias e identidades da comunidade local e da sociedade, colaborando para que a memória permaneça viva e o patrimônio preservado. O processo de apoderação do patrimônio cultural busca compreender as memórias sociais que permeiam os bens culturais e a percepção desses, pelas comunidades contemporâneas locais. A construção dessa noção de patrimônio cultural, intensifica o reconhecimento das identidades sociais, seja pela socialização entre comunidade, pesquisadores e instituições, como também pelas ações de preservação dos bens patrimoniais, a materialidade do espaço e o sentimento de segurança e apesar da importância do turismo arqueológico para a economia da população local, as ações de apropriação do patrimônio cultural devem ser sistemáticas envolvendo questões como memórias, identidades, informações e conhecimentos para que, tal patrimônio seja percebido como elemento cultural, parte da história e dos antepassados da comunidade e não apenas como um fator econômico e mercadológico (CATOIRA & AZEVEDO NETO, 2018).
Kiyotani,
Arruda & Tavares (2015) sugeriram o arqueoturismo para a Pedra do Ingá,
como uma alternativa para viagens motivadas pelo desejo de conhecer aspectos de
culturas passadas, entretanto, identificaram e apontaram deficiências na
estrutura física e de informação, não somente no sítio, mas também na qualidade
dos serviços de alimentação, hospedagem e transporte para o turismo
arqueológico no Ingá.
Esse texto é a proposta de estudo e pesquisa
para a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC – no Bacharelado em
Ciências das Religiões pela Universidade Federal da Paraíba – UFPB - e teve como objetivo geral analisar as
diversas concepções sobre a ornamentação das
Itaquatiaras do Ingá, sua autoria, a
época em que isso se deu, as técnicas utilizadas para burilar o bloco de
gnaisse e o significado dos glifos, discutindo os prováveis aspectos místicos,
sagrados e científicos envolvidos nessas suposições e como objetivos
específicos, buscou revisar e analisar o que foi descrito ao longo dos séculos acerca das
inscrições das Itaquatiaras do Ingá, estabelecendo relações entre os signos da
Pedra do Ingá e outras inscrições da arte rupestre conhecidas no Nordeste do Brasil.
A metodologia adotada consistiu na realização de um levantamento bibliográfico sobre o tema, na leitura e análise dos textos e na redação e elaboração de uma produção textual que, possibilitasse a discussão dos achados e a elaboração de uma conclusão que buscasse não negligenciar o caráter científico desse desfecho, porém sem negar o valor da imaginação na elucidação da pré-história nordestina e brasileira.
[1]
Na arqueologia, a
classificação em tradições é a forma operacional que os arqueólogos usam para
separar e identificar as formas de apresentação gráfica utilizadas pelos
diversos grupos étnicos pré-históricos no tempo e no espaço. As gravações perto
ou no leito dos rios nordestinos têm sido agrupadas na tradição Itaquatiara, discutidas mais adiante.
[2] Informação eletrônica, ausência
de páginas.
[3] Vanderley de Brito é pós-graduado em História pela Universidade Estadual da Paraíba e sócio fundador da sociedade Paraibana de Arqueologia. Desde 2001 se ocupa no estudo da cultura Itacoatiara na Paraíba, percorrendo o território paraibano em busca de inscrições rupestres, esmiuçando a bibliografia sobre o assunto para escrever um livro.
2. A arqueologia pré-científica
2.1 A tradição bíblica e o mito fenício
A
pesquisa arqueológica brasileira nasceu no século XIX à sombra de viajantes,
naturalistas, botânicos, geólogos, antropólogos e paleontólogos estrangeiros,
enviados por seus países para o enriquecimento das coleções dos museus europeus
e também de estudiosos de sociedades primitivas. Como nos demais países de
tradição cristã, o estudo da pré-história no Brasil, no período pré-científico,
está também atrelado à rigidez da cronologia bíblica e dessa forma, o que
aconteceu está na Bíblia e o que não está na Bíblia, simplesmente não
existiu. Depois que, em 1537, a bula do
Papa Paulo III, definitivamente estabeleceu que os indígenas americanos também
eram filhos de Deus e tinham direito à salvação eterna, nasce as bases de uma
arqueologia mitológica, apoiada na Bíblia, particularmente em algumas passagens
do Antigo Testamento que, falam de navegações demoradas a lugares não
claramente identificados, junto com a necessidade de situar os indígenas
americanos dentro dos tradicionais episódios bíblicos da arca de Noé e das
tribos perdidas de Israel. Assim, a arqueologia pré-científica até o século
XIX, na realidade, teve sua origem no desejo de descender as culturas indígenas
americanas às civilizações mediterrâneas, especialmente pelos missionários que,
ansiavam por uma explicação bíblica e pós-diluvial que justificasse a presença
humana nas Américas. Esse desejo de
origens e de um passado heroico, está latente em todos os povos, razão da fama
do mito da Atlântida e de seus habitantes. Tudo isso, possibilita classificar
as influências míticas na história da Arqueologia brasileira em três fases:
mitos heroicos, relatos de missionários, viajantes e aventureiros e a moderna
pesquisa científica. Todo esse mundo mítico fantástico, paralelo ao início da
pesquisa científica, é especialmente significativo no Nordeste e em decorrência
disso, os fenícios, os gregos ou mesmo os israelitas, deveriam ser os antigos
ascendentes dos povos originários encontrados pelos europeus, porém,
desgraçadamente já em fase de regressão cultural. Na interpretação mítica das
origens pré-históricas brasileira pode-se distinguir três tendências
dominantes: a interpretação dos textos bíblicos, as navegações dos fenícios e o
mito da Atlântida que, está relacionado com a Ilha Brasil e a lenda das Sete
Cidades (MARTIN, 2013).
Martin
(2013) apresentou passagens do Antigo Testamento - I Reis 10:11-22, - I Reis
22:49, II Isaías 2: 16, Jonas 1:3, Ezequiel 27:12 - que, falam dos navios de
Hirão e Salomão que iam a Ofir e Társis e de três em três anos, voltavam
“trazendo grande quantidade de madeira de sândalo e pedras preciosas”, ou
“prata, marfim, bugios e pavões”, e também “prata, estanho, ferro e chumbo”.
Em
1869 dom Henrique Onffroy de Thoron lançou o livro “Antiguidade da navegação do
oceano. Viagem dos navios de Salomão ao rio das Amazonas, Ophir, Tardschiscli, Parvaira”,
traduzido para o português e publicado em Manaus em 1876; nele Thoron
argumentou que o Rei Salomão haveria navegado pelo rio Amazonas, embasando-se
em Sólon que, recebeu dos sacerdotes egípcios com riqueza de detalhes, todo o
conhecimento sobre o império marítimo da Atlântida, sua invasão e destruição e
também, baseando-se nos diálogos descritos por Platão (2012) entre o seu avô
Crítias e Timeu, no século IV a.C., nos quais a posição da grande ilha de Atlântida
no oceano, é indicada em frente ao estreito de Hércules, ou Gades e em seguida,
atrás desta, apontou as numerosas ilhas agora chamadas de Antilhas e depois
destas, segundo Crítias, “está a grande terra firme... um verdadeiro
continente” (THORON, 1905).
Thoron
(1905) também citou que segundo Platão (2012), a esquadra dos atlantes era
composta de vários milhares de navios, para ele “as provas da navegação do
oceano” por povos cuja antiguidade remonta o cataclisma da Atlântida e continua
dizendo que, Aristóteles também descreveu uma região fértil, abundantemente
regada e coberta de florestas, que fora descoberta pelos Cartagineses “além do
Atlântico” e concluiu que, o diálogo entre Crítias e
Timeu refere-se as Américas e para que não haja dúvidas, Platão acrescentou
que, atrás desta terra firme, está o “grande mar”.
Thoron
(1905) descreveu sua certeza de que os povos dos grandes continentes se
conheceram antes da época fenícia e que, antes dos fenícios, os dois oceanos e
a América eram conhecidos dos atlantes e dos egípcios, sendo que, os antigos
egípcios e os pelasgos seriam, na verdade atlantes americanos.
Thoron
(1905) resumiu que, depois de haver-se baseado em historiadores, para
demonstrar que os povos da antiguidade navegavam pelos oceanos e conheciam a
América, fez ainda conhecer que palavras hebraicas se misturaram aos dialetos
dos indígenas e que, essa troca de vocábulos entre nações de continentes
diversos, é a prova de que os hebreus e os fenícios viajavam pelo rio das
Amazonas, o qual recebeu desses navegantes o nome de “Salomão”[4].
Assim, como está descrito na Bíblia, o rei Salomão pleiteava marujos a Hiram, rei de Tiro, para que seus navios
navegassem pelo rio das Amazonas até às cidades de Ophir, Tarschisch e Parvaim, onde
se abasteciam com ouro e pedras preciosas.
Thoron
(1905) defendeu em seu livro que:
Os
monumentos com inscrições e esculturas na pedra dura, provam que instrumentos
de ferro e de aço serviram para gravá-las, pois em nenhuma parte da América
teriam sido descobertos vestígios de fábrica de ferro e, apenas o cobre estava
em uso. Artistas e operários estrangeiros, teriam contribuído para a construção
e o embelezamento dos edifícios (THORON, 1905).
Por outro lado, Brito (1988, p. 41)
escreveu que, em 1882, o americano Ignatius Donnatelly dedicou-se à pesquisa do
continente perdido e escreveu o livro “Atlântida, um mundo antediluviano” tendo
afirmado que através do tempo:
A
Atlântida tornou-se uma nação poderosa e de grande população que, expandindo-se
para a costa do golfo do México, para o rio Mississipi e Amazonas, costa do
Pacífico da América do Sul, Mediterrâneo, costa ocidental da Europa e da
África, o Báltico, o Mar Negro e o Mar Cáspio, povoou esses locais, que foram,
portanto, habitados por gente civilizada (BRITO, 1988, p. 41).
Para Donnatelly,
a catástrofe que destruiu completamente a ilha:
Levou algumas pessoas a fugirem em
barcos e jangadas, levando para as nações a leste e oeste a narrativa da
terrível catástrofe que, permanece até nossos dias, nas lendas de inundação e
diluvio de diversos povos do Velho e do Novo Mundo (BRITO, 1988, p. 41).
[4] Rio Solimões foi o nome dado por cronistas ibéricos na época do descobrimento, ao trecho superior do rio Amazonas no Brasil, desde sua confluência com o rio Negro até a tríplice fronteira do Brasil com o Peru e a Colômbia. As razões da alcunha ainda são incertas, mas é sabido de uma nação ameríndia vulgarmente denominada por cronistas lusófonos de Soriman, corrompida como Solimao ou Solimum, em referência ao veneno utilizado nas pontas de flechas e dardos destes povos, deu a este trecho o nome do rio e região do estado do Amazonas. Nas proximidades de Manaus, o rio Negro encontra-se com o rio Solimões, formando o fenômeno natural do encontro das águas, onde as águas barrentas do Solimões não se misturam com as águas do Rio Negro. Depois da união dos dois rios, o rio recebe o nome de rio Amazonas, em território brasileiro.
Na década de 1950, Marcel Homet, pesquisador francês
assegurou que há uma linguagem fálica nas inscrições do Ingá, produzida por uma
civilização magdaleana, descendente de povos de um suposto continente
desaparecido entre o Velho e o Novo Mundo, chamado Atlântida (BRITO, 2013).
Em 1957, Amilcar Quintela Junior no livro
“Atlântida”, um poema épico dividido em doze cantos, sugeriu que o monumento do
Ingá revela a epopeia de Raguemá, um
herói civilizador das Américas nos tempos faraônicos. A Pedra do Ingá seria a
tumba de Raguemá (BRITO, 2013).
No
entanto, a versão mais propagada para as inscrições das Itaquatiaras do Ingá,
defende que teriam sido náufragos fenícios os autores das famosas
inscrições. Para Martin (2013, p. 19) o
mito fenício brasileiro nasceu com as lendas da Ilha Brasil, das Sete Cidades e
de outras fantasias, pois as navegações mediterrâneas além das colunas de
Hércules, no estreito de Gibraltar, estão relacionadas com as viagens
comerciais dos fenícios ao Ocidente através da rota dos metais, iniciadas a
partir do século IX a.C. e que, percorreram parte do noroeste da África, o
norte da Península Ibérica, a Cornualha e talvez as ilhas Britânicas, mas com o
descobrimento das Américas, o imaginário daqueles navegadores do além mar,
criou asas.
De
acordo com Brito (2013, p. 37) a pedra angular do mito fenício brasileiro é o
relato do grego Diodorus Sículo que, viveu no século I a.C. e, registrou que,
navegadores fenícios cruzando o oceano, chegaram a uma grande terra fértil e de
clima delicioso, por volta de 500 a.C.; com base nesse documento, quem primeiro
defendeu a presença de fenícios em terras brasileiras foi o padre jesuíta Simão
de Vasconcelos, no século XVII, atraindo diversos simpatizantes, como o padre
Inácio Rolim e o naturalista Jacques Brunet que, reconheceram analogias entre
os sinais nas gravuras rupestres e letras do alfabeto fenício.
Contudo,
o excêntrico e visionário austríaco, Ludwig Schwennhagen, foi sem dúvida, o
mais criativo e pitoresco defensor do mito fenício, percorrendo os sertões do
Ceará, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Pernambuco e do Piauí nas décadas
de 1910 e 1920, sempre em busca de perdidas civilizações mediterrâneas e
desaparecendo, um dia, sem deixar vestígios. O “Doutor Loudovico Chove n’água”,
como era tratado pelos seus amigos sertanejos incapazes de pronunciar seu nome
corretamente, o gringo calmo, grandalhão e professor de História que gostava de
beber cachaça e andava estudando ruínas, escreveu vários artigos e o livro
“Antiga História do Brasil de 1100 a.C. a 1500 d.C.”, publicado inicialmente em
Teresina, Piauí em 1928, pela editora Cátedra, do Rio de Janeiro. O livro é um
compêndio utópico sobre as viagens dos fenícios ao Brasil em que, as
excêntricas formações geológicas do Parque Nacional de Sete Cidades, no Piauí,
são transformadas em sete cidades fabulosas do império colonial fenício do além
mar. As pesquisas desvairadas de Ludwig Schwennhagen atrás de inscrições
rupestres, levou-o a imaginar a existência de várias cidades, fundadas da união
de fenícios e troianos no litoral do Nordeste, entre o Maranhão e a Bahia, das
quais a mais importante seria Tutóia, no delta do Parnaíba. Mas, Schwennhagen não
era o único a acreditar na lenda das sete cidades piauienses, pois o
conselheiro Tristão de Alencar Araripe, no seu livro “Cidades petrificadas e
inscrições lapidares no Brasil” (1887), também noticiou a “cidade petrificada
do Piauhi”, sem porém se pronunciar sobre as suas origens (BRITO, 2013; MARTIN,
2013; MARTIN, 1975).
Martin
(1975, p. 518) observou que, o próprio Aníbal Mattos, autor do livro “O homem
das cavernas de Minas Gerais” (1961) e um dos principais escavadores das
cavernas de Lagoa Santa, pesquisou a obra de Schwennhagen e seus congêneres a
respeito da possível colonização dos fenícios no Brasil, sem afirmar e nem
negar nada, considerando-os como trabalhos científicos.
Coutinho
(1995 apud SANTOS, 2005, p.57) citando o pesquisador Anthero Pereira sobre a
Pedra do Ingá, fez comparações das Itaquatiaras do Ingá com a suposta escrita
ideográfica usada na Ilha de Páscoa. Coutinho tenta em sua obra “Enigmas de
Sete Cidades”, decifrar os enigmas das Sete Cidades do Piauí, conseguindo
perceber nos grafismos encontrados naquele sítio arqueológico, a existência de
uma civilização megalítica, moldada em suposições sem base científica. O autor
também trabalha com a existência de uma escrita de natureza alfabética silábica
no Brasil pré-histórico, cuja escrita era exclusiva dos sacerdotes dessa antiga
cultura megalítica estrangeira.
Martin
(2013, p. 24) contou que o mito das sete cidades, também relacionado com a Ilha
Brasil, surgiu na península Ibérica no século VIII, quando um bispo católico,
fugindo da invasão sarracena que, em algumas versões é o próprio rei dom
Rodrigo, último da dinastia visigoda derrotada pelos árabes, embarcou em Lisboa
rumo ao Oeste chegando a uma ilha desconhecida, onde fundara sete cidades. A
estória começou a correr na cartografia anterior e imediatamente posterior aos
descobrimentos e assim, a lenda misturada a outras de origem indígena,
espalhou-se pelas Américas, atraindo aventureiros de todas épocas, sempre
procurando os mitos heroicos de norte a sul. O mito fenício custou caro à fase
mitológica da pré-história brasileira e as Itaquatiaras do Nordeste,
transformaram-se muitas vezes em inscrições fenícias.
Para
Almeida (2009, p. 77), Ladislau de Sousa Mello e Netto tutelou o mito da vinda
dos fenícios ao Brasil, quando escreveu “Investigações sobre a arqueologia
brasileira”, em 1885. De fato, contribuiu bastante para o mito fenício das
inscrições da Pedra do Ingá, a famosa inscrição fenícia da Paraíba,
supostamente achada em 1872, no inexistente lugar de Pouzo Alto, no Vale do
Paraíba do Sul, por um também inexistente Joaquim Alves da Costa que, teria
enviado uma carta anônima, acompanhada de um desenho das inscrições ao Marquês
de Sapucahy, presidente do Instituto Histórico, Geográfico e Etnográfico do
Brasil. Ladislau Netto, então diretor do Museu Nacional, cento e oitenta dias
após o recebimento da carta, em abril de 1873, apresentou aos periódicos
cariocas “A Reforma” e “Jornal do Comércio”, o resultado de suas investigações,
em que a pedra original teria sido um monumento dos fenícios da antiga Sidônia.
O achado atraiu a atenção mundial de autoridades no assunto para,
posteriormente descobrir-se que, tratava-se de uma fraude.
Imagem
1:
Cópia do texto da pedra fenícia da Paraíba de 1872.
Disponível em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_da_presen%C3%A7a_de_fen%C3%ADcios_no_Brasil#/media/Ficheiro:Paraiba-fac-simile.jpg>.
A
região do vale do Paraíba na época, era chamada de Paraíba do Sul, para
diferenciá-la do estado da Paraíba, no Nordeste do Brasil. Uma vez que, a
suposta inscrição fenícia nunca foi encontrada ao longo do rio Paraíba do Sul e
pouco depois, os meios de comunicação divulgaram uma cópia de inscrições
encontradas pelo engenheiro de minas Francisco Soares da Silva Retumba, na
Paraíba, então a Pedra do Ingá passou a ser a figura fenícia da Paraíba,
embora, o achado de Retumba tenha ocorrido em Pedra Lavrada, outro município
distante cento e quarenta quilômetros do Ingá. Com o tempo, passou a se falar
da inscrição fenícia da Paraíba que, acabou sendo identificada como a
enigmática Itaquatiara do Ingá, no estado da Paraíba, a mais famosa e
expressiva gravura rupestre do Brasil. Entretanto, as inscrições da Pedra do
Ingá, assim como as da Pedra de Retumba, não tem qualquer semelhança com a
suposta inscrição que teria sido copiada na cidade de Pouzo Alto (BRITO, 2013;
MARTIN, 2013; LANGER, 2000).
Brito
(2013) contou que o Sítio Arqueológico da Pedra de Retumba em Pedra Lavrada, na
Paraíba, foi primeiramente referenciado pelo naturalista Louis Jacques Brunet
por volta de 1858 mas, somente em 1886 o engenheiro de minas Francisco Soares
da Silva Retumba dirigiu ao presidente da província, um relatório onde
mencionava a existência de inscrições em uma grande pedra, no povoado de Pedra
Lavrada. Retumba copiou integralmente as inscrições, enviou em apêndice junto
com a carta e assim o desenho correu o mundo, tornando-se famoso. A Pedra de
Retumba atualmente encontra-se submersa numa represa do rio Seridó.
Imagem
2:
Cópia das inscrições da Pedra de Retumba.
Disponível em: <https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:sub-tradição,_Francisco_Soares,_Pedra_Lavrada_em_Jardim_do_Serid%C3%B3.png>.
Martin
(2013, p.27) considerou que, pode-se incluir também o Imperador dom Pedro II
como um dos primeiros arqueólogos do Brasil, pois influenciado pela Sociedade
de Antiquários de Londres, com visão classicista e heroica do mundo antigo e
pouco interessado na pobre arqueologia indígena, a autora considerou que:
O
imperador protegeu Ladislau Netto, facilitando-lhe os estudos na França, com a
secreta esperança de origens clássicas para os indígenas do seu país. Deve ter
recebido com alegria a notícia do achado da falsa inscrição fenícia da Paraíba,
assim como os quadros comparativos dos desenhos da louça de Marajó com antigas
línguas orientais, publicados por Ladislau Netto (MARTIN, 2013, p. 27).
Para Johnni Langer (2000, p. 83)
pesquisador de mitos fenícios no Brasil, aquela fraude foi intencional tendo
por objetivo desmoralizar a Academia Imperial ou, ao contrário, glorificar
algum dos seus membros, havendo quem diga que o próprio Ladislau Netto teria
forjado o engodo, procurando dar origem na antiguidade clássica para o povo
brasileiro. Langer (2000, p. 89) narrou que, Ladislau Netto enviou
correspondência a quatro estrangeiros residentes na capital, Rio de Janeiro,
todos com conhecimento epigráfico, comparando as suas respostas com a carta que
recebeu de Joaquim Alves da Costa e acreditou ter encontrado o autor da fraude,
porém, tratando-se de pessoa com alto prestígio social, preferiu nunca
mencionar o nome de sua suspeita. Por outro lado, Langer (2000, p. 88),
especulou que, alguns eruditos ligados ao Instituto Histórico e Geográfico
Brasileiro (IHGB) poderiam ter efetuado a fraude. Embora, além de Ladislau
Netto, apenas o imperador possuísse esparsos conhecimento de hebraico, o
diplomata conde de La Hure, era uma das poucas pessoas daquela época com
conhecimentos especializados em epigrafia e métodos arqueológicos modernos e
que, teve suas memórias com a interpretação da origem fenícia das inscrições da
cidade perdida da Bahia, contestada por Fernandes Pinheiro, primeiro secretário
da Revista IHGB. Em 1866, o conde de La Hure solicitou ao IHGB subsídios
financeiros para suas pesquisas arqueológicas, mas não obteve resposta, desde
então, sua intensa correspondência com os membros da Academia Imperial, cessou.
Esse poderia ter sido então, o motivo para La Hure forjar o documento, pois
pretendia desmoralizar a instituição que não apoiou suas teorias e trabalhos.
Além disso, colabora com essa hipótese, o fato do conde ter efetuado um estudo
geológico na região do rio Paraíba, explicando a localização da misteriosa
pedra.
Julgando que alguns caracteres da
gravação de Pouzo Alto se assemelhavam a letras do alfabeto fenício, Ladislau
Netto entre 1872 e 1873 dirigiu-se a Ernerst Renan e a Bargés, dois
orientalistas franceses que, acolheram a ideia do estudioso brasileiro, assim a
inscrição foi traduzida apresentando em um dos seus trechos o seguinte: “Esse
monumento de pedra foi por Cananeus Sidônios que para fundar colônias em país
longínquo, montanhoso e árido, sob a proteção dos deuses e deusas, puseram-se
em viagem no 19º ano de Hiram, nosso poderoso rei”.
Ladislau Netto impossibilitado de
localizar o proprietário do Sítio em Pouzo Alto e, reconhecendo na tradução
referências ao périplo de Hanon do
século VI a. C., a trechos bíblicos e ao Poemulus
de Plauto, valendo-se de hábil estratégia, conseguiu descobrir através da
imprensa do Rio de Janeiro “o autor da
falsificação, um orientalista residente no Rio de Janeiro”, daí a célebre Lettre à Monsieur Renan à Propós de
L’inscription Phenicienne Apocryphe Sumise en 1872 à L’Institute Histórique et
Etnográfique du Brasil, publicada em 1885.
Martin, (1975, p. 516) afirmou que, a
tradução mais difundida da suposta inscrição fenícia da Paraíba e similar a
dada por Renan, é a do professor norte americano Cyrus Gordon que, em 1968,
trouxe de volta a questão já quase esquecida das inscrições fenícias no Brasil.
Brito
(2013, p. 39) escreveu que, em 1968, o cientista norte-americano Cyrus Gordon,
autoridade em línguas mortas da Universidade de Brandeis, num trabalho
intitulado “The authenticity of the phoenician text of Parahyba” atestou a
origem fenícia das supostas inscrições de Pouzo Alto e traduziu o texto como o
relato de comerciantes fenícios, a serviço do Rei de Sidon, que teriam se
perdido durante uma tempestade na costa da África e aportado em terras
estranhas.
Martin (2013) contou que, Gordon considerou
a inscrição autêntica, porque ninguém poderia ter inventado vocábulos e formas
gramaticais fenícias desconhecidas em fins do século XIX. Contudo, nada
impediria que "o orientalista”, a quem Ladislau Netto acusa, sem citar o
nome, a copiasse de uma autêntica, encontrada em algum lugar do Mediterrâneo,
como a “estela moabita de Mesa”, descoberta em 1869, e com a qual tem
indubitáveis pontos de semelhança, criando-se assim a fraude que se arrastou
até os nossos dias. Eis aqui a tradução de Gordon:
Somos
filhos de Canaã, de Sidon, a cidade do rei. O comércio nos trouxe a esta
distante praia, uma terra de montanhas. Sacrificamos um jovem aos deuses e
deusas exaltados no ano 19º de Hiran, nosso poderoso rei. Embarcamos em
Eziongeber no mar Vermelho, e viajamos com dez navios. Permanecemos no mar
juntos por dois anos, em volta da terra pertencente a Ham (África), mas fomos
separados por uma tempestade e nos afastamos de nossos companheiros e assim
aportamos aqui, 12 homens e 3 mulheres. Numa nova praia que eu, o almirante,
controlo. Mas auspiciosamente possam os exaltados deuses e deusas intercederem
em nosso favor (MARTIN, 2013, p. 517).
Para
Martin (1975, p, 509) como a tradução de Gordon para as inscrições de uma
inscrição fenícia encontrada no Brasil no final do século XIX não parece
inventada, mas copiada de uma inscrição real, supõe-se que alguém a copiou de
um texto fenício, no anseio de agradar ao Imperador dom Pedro II, que era
aficionado à arqueologia e às antiguidades. Martin acha que, da mesma maneira
nasceu o mito da inscrição fenícia, para uns e indígena para outros, gravado na
imensa rocha chamada de "Pedra da Gávea", no Rio de Janeiro. A
inscrição da Pedra da Gávea foi traduzida pelo historiador amazonense Bernardo
Ramos como: "Tiro, Fenícia, Badezir Primogênito de Jethabaal",
contudo, não são mais do que desenhos na rocha produzidos naturalmente pelo
intemperismo.
De
acordo com Brito (2013, p. 85) a mais famosa pseudoinscrição do Brasil são as
fissuras, fendas e frestas enfileiradas, com três metros cada uma, esculpidas
numa parede de granito da imensa rocha no alto do morro da Gávea no Rio de
Janeiro (BRITO, 2013).
Brito
(2013, p. 85) comentou também que, no Sítio Arqueológico do Ingá, em frente ao
monólito principal, há um parede rochosa que parece ter sido entalhada pela mão
humana, no entanto, o fenômeno é resultado do intemperismo, trata-se também de
uma pseudoinscrição.
No
entanto, é o português Ferraz de Macedo (1886, apud MARTIN, 2013, p. 20), autor
de uma das mais antigas e raras obras da Pré-história brasileira, editada em
Lisboa, em 1886, simultaneamente em francês e português, sob o título
“Ethnogenia Brazilica, esboço crítico sobre a Pré-história do Brazil e
autochtonia polygenista baseado nas recentes descobertas archaeológicas da
América, apresentadas na exposição anthropologica do Rio de Janeiro em 1882”,
um dos maiores críticos da obra de Ladislau Netto. No livro Macedo tentou
demonstrar que Ladislau Netto era apenas “um plagiário descarado”, o qual teria
invadido na sua ausência, a casa de l'Epine, francês contratado pelo Museu
Nacional para desenhar as coleções egípcias e da cerâmica Marajó, para roubar
uma mala com manuscritos e depois denunciar l'Epine à polícia como ladrão.
Acompanham as afirmações de Macedo uma declaração do próprio l'Epine e outra da
sua anfitriã, ambas com autenticação de cartório e do consulado da França. No
segundo capítulo, Macedo prossegue enumerando os grandes plagiadores da
história e dentre esses estão Santo Inácio de Loyola e Ladislau Netto, denunciando
que, as tábuas comparativas das inscrições de Marajó com sinais mexicanos,
chineses e egípcios eram obra de l’Epine, conhecedor do chinês e do egípcio, e
não de Ladislau Neto que “mal falava francês e português”. Sobre isso, Martin
(2013, p. 21) opinou que, nem Ladislau Netto nem l'Epine, conheciam a escrita
chinesa ou egípcia e quanto ao domínio do francês, considera importante
observar que, Ladislau Netto foi aluno da tradicional e conceituada
Universidade de Sorbonne, onde obteve o título de Doutor em Ciências Naturais,
entre outras honrarias.
Martin (2013, p. 21) escreveu que, num
artigo na “Folha Nova”, publicado em 1885, o então diretor do Museu do
Amazonas, J. Barbosa Rodrigues, referindo-se a Ladislau Netto, escreveu: “Todo
homem, embora coberto pelo prestígio oficial e pelas lantejoulas, deve ter
honra, e deve defendê-la para mostrar que não é um caráter podre”. A autora
descreveu ainda que, o escritor sergipano Sylvio Romero, no artigo “O Sr.
Ladislau Netto e a archeologia brazileira”, com sarcasmo, ridicularizou os
trabalhos do sábio alagoano chamando-o de “beduíno anthropológico”, atacando-o,
também no obscuro assunto da inscrição fenícia apócrifa da Paraíba, para depois
o chamar de “audaciosíssima encarnação da fofice brazileira que se chama
Ladislau de Souza Mello e Netto” e continua com acusações dizendo:
[...]
Ladislau, acoroçoado por não sei que maligno demônio, entrou a hypnotisarnos em
chinês e egípcio, como já d'antes nos embasbacaria em phenicio e hebraico. É um
mágico [...] Elle, que é incapaz de escrever vinte linhas certas em francês,
elle, que mastiga mal a própria língua, arrotando agora quatro idiomas
orientais difficílimos, pertencentes a três grupos etnográficos diversos [...]
Onde e quando os estudou e quem foram os seus mestres? Da affirmação da
ignorância absoluta do diretor do Museu Nacional o Sr. Ladislau de Sousa Mello
e Netto em qualquer dos ramos das línguas orientais, tomo eu a responsabilidade
histótica ex auctoritate que fungor.
E para tanto, basta conversar com elle dez minutos... (MARTIN, 2013, p. 21)
Os rumos do que pretendia ser o maior
achado do século, começaram a convergir para mais um engodo científico. Através
de carta enviada para o “Novo Mundo”, em abril de 1874, o alagoano Ladislau Netto,
reconheceu pela primeira vez o caráter apócrifo da pedra fenícia, depois em
carta enviada ao seu orientador e amigo, Ernest Renan que, desde 1861, chefiava
a missão francesa de escavações na Fenícia e no ano seguinte, no seu artigo
“Inscrição Phenicia”, publicado no Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, em 8
de junho de 1875 e reproduzido cem anos depois, em artigo na Revista de
História (1975), da Universidade de São Paulo. Apesar disso, Ladislau Netto não
conseguiu livrar-se totalmente da fama de mentiroso e falsário, que o perseguiu
durante toda a sua vida e mesmo muitos anos depois da sua morte, ainda foi
violenta e injustamente atacado pelo paraibano Geraldo Joffily no artigo “A
inscrição fenícia da Paraíba”, publicado em 1973 na Revista de
História, chamando-o de falsário e mentiroso e afirmando que, motivado por
objetivos de autopromoção ou fama, o arqueólogo teria sido o maior beneficiado
pela divulgação do polêmico vestígio, além de insinuar que a falsa inscrição
fenícia havia sido urdida pelo imperador dom Pedro II (LANGER, 2000; MARTIN,
2013, MARTIN, 1975).
Em defesa de Netto, Martin (1975, p.
516) citou as palavras a ele dedicadas por Angyone Costa: "incidiu em
erros, que passavam como verdades no seu tempo, mas que não lhe diminuem o valor”.
Langer
(2000, p. 88), considerou que, a simpatia de Netto para com a vinda dos
navegantes semitas ao Brasil não era um caso isolado, pois na época, diversos
intelectuais e periódicos nacionais compartilhavam essa concepção e que, essa
falta de contextualização do período histórico, também levou o historiador José
Bittencourt, a equivocadamente julgar, o envolvimento de Ladislau Netto na
feniciologia não condizente com sua figura de “cientista rigoroso”.
Brito
(1988) narrou uma lenda contada e defendida pelos mais eruditos do Ingá que,
conta da vinda de estrangeiros ao Ingá, dizendo que a viagem foi feita por
fenícios que partindo do Oriente, passaram pelo sul da África chegando à costa
paraibana, de onde tomaram o rio Paraíba na sua foz em Cabedelo, subindo contra
a correnteza até alcançar um dos afluentes do rio Bacamarte e chegarem ao Ingá,
percorrendo ainda alguns quilômetros à frente, onde deixaram a embarcação por
falta de condições de navegabilidade.
No final do século XIX, as descobertas mais importantes para
a arqueologia brasileira aconteceram na Amazônia, onde Emílio Goeldi escavou as
famosas necrópoles de Cunani e K. Rath explorou os sítios da ilha de Marajó,
divulgando a bela cerâmica marajoara (BRITO, 2013).
Contudo,
o mito fenício não se acabou com Ladislau Netto e a suposta colonização fenícia
do Brasil insiste sempre em renascer. No final da década de 1960, o arqueólogo
francês Armand Laroche apontou correlações entre os signos do Ingá e a escrita
fenícia, protosinaica, etrusca e hitita. Na década de 1970, o mito fenício
brasileiro teve no Dr. Barata, presidente de um certo Grupo Arqueológico do
Ceará, um apaixonado defensor. Para o advogado Keyller Toscano de Almeida, as
inscrições do Ingá foram feitas por navegantes fenícios acidentalmente
aportados na Paraíba. O mito fenício brasileiro, chegou ao passado recente
tendo como defensores dom Henrique Onffroy de Thoron, José da Silva Ramos,
Bougard de Magalhães, o cônego Florentino Barbosa e o padre Francisco Lima,
além de Frederico Hats (BRITO, 2013; MARTIN, 2013).
2.2 A hipótese astronômica e a hipótese
da origem clássica
Em 1962 surge a primeira hipótese astronômica para a Pedra do Ingá, com o astrônomo amador José Benício de Medeiros, além de Francisco Octávio da Silva Bezerra e Alfredo Coutinho de Medeiros Falcão, pesquisadores do Centro Brasileiro de Arqueologia que, notaram uma certa repetição de símbolos fálicos e astronômicos nas inscrições (BRITO, 2013).
Ainda na década de 1960, também por influências dos
avanços na corrida espacial, surgiram teorias de que as Itaquatiaras do Ingá
revelam motivações astronômicas. Naqueles anos da viagem de Iúri Gagagarín ao
espaço sideral (1961) e do pouso da nave norte americana da Apolo XI na lua
(1969), assuntos relacionados ao espaço e a astronomia estavam em moda.
Em 1984, o já então dentista
Francisco Faria, sugeriu existir um zodíaco nos registros do Ingá (FARIA, 1987;
BRITO, 2013). Enquanto Brito (1988) cogitou em seu livro, a
possibilidade da linha com cento e catorze capsulares acima das inscrições no
painel vertical no monólito principal do Ingá, sejam configurações de um
calendário lunar.
As
inscrições na laje superior do monólito principal do Ingá e os glifos
existentes na laje lateral estimulam as especulações em torno de símbolos astronômicos.
A principal constelação identificada na chamada “tábua astronômica” da laje
lateral, é a constelação de Órion que, nos primeiros meses do ano, domina o céu
na caminhada de leste a oeste (BRITO, 1988).
O século XXI trouxe pesquisadores alicerçados em
padrões teóricos, Thomas Bruno Oliveira estudou as inscrições desde 2004 e as
considerou de objetivo pragmático, enquanto isso, Dennis Mota Oliveira propôs
que os sinais são puramente subjetivos e de fins mágico-religiosos, já Erik
Brito, supôs conter as inscrições do Ingá, um conjunto de fórmulas
fitoterápicas. Por fim, o antropólogo Carlos Azevedo que, estuda a Pedra do
Ingá desde 1961, defendeu a hipótese de que um povo sedentário e agrário
escreveu em linguagem geométrica, uma visão de mundo neolítica (BRITO, 2013).
Bernardo
Azevedo da Silva Ramos recolheu cerca de três mil inscrições do Brasil e de
outros países da América, para a sua obra de dois volumes intitulada
“Inscrições e tradições da América Pré-histórica especialmente do Brasil”,
publicada em 1939, no Rio de Janeiro. Na obra, Ramos defendeu que as inscrições
do Ingá são símbolos gregos paleográficos e ainda identificou os nomes de
alguns planetas e signos zodiacais escritos em grego, assim traduzidos: Helios (Sol), Selene (Lua), Ares (Marte),
Aphrodite (Vênus), Zeus (Júpiter), Taurus (Touro), Krios
(Carneiro), etc.". Foi exatamente defendendo a interpretação de Ramos, que
o padre Francisco Lima, outro adepto do vínculo helênico dos registros
rupestres do Ingá, jurou por sua fé de sacerdote, após ver a rocha onde se
encontra a inscrição, ter lido a palavra Helios,
em grego. Em 1953, o padre Francisco Lima publicou na Revista do Instituto
Histórico e Geográfico Paraibano, o artigo “Vestígios de uma civilização
pré-histórica”, onde aceita a vinculação dos gregos com as Itaquatiaras do Ingá
(ALMEIDA, 2009; MARTIN, 1975).
Martin
(1975, p.520) achou insólito e surpreendente que o padre Francisco Lima,
historiador de reconhecido mérito, jurasse sobre sua fé de sacerdote – infide sacerdotis et gradus mei - que as
inscrições nas Itaquatiaras do Ingá se tratavam de letras gregas: "Vi
várias letras gregas destacadas ou conjugadas, mas perfeitamente legíveis, em
baixo relevo, rasgadas em plena rocha". Para Martin (1975) qualquer um
que, diante das insculturas do Ingá, tentasse encontrar semelhanças com letras
fenícias ou hieróglifos egípcios, daria apenas mostras de ignorância, alienação
científica ou, como o padre, de ingenuidade.
O artista plástico Nivalson Miranda,
disse em um vídeo documentário que, a Pedra do Ingá é um monumento tumular
erguido por um sumo sacerdote egípcio que, cruzou o oceano para sepultar uma
amada do faraó (BRITO, 2013).
Em 3 de julho de 1977 o jornal A
União noticiou que, os franceses Louis Pauwels e Jacques Bergier, na obra “O
despertar dos mágicos”, anunciaram duas mil coincidências entre os glifos das
Itaquatiaras do Ingá e o egípcio antigo (BRITO, 2013).
Em 21 de agosto de 1977, o jornal
O Norte registrou a visita do professor egípcio Fathi Sehea da Universidade de
Quebec no Canadá, que descobriu “entre os ideogramas insculpidos na rocha do
Ingá, um mapa reproduzindo o rio Nilo e outro símbolo parecido com os da
hieroglífica faraônica, a famosa “flor de lótus dos templos de Karnak e Luxor”
(FARIA, 1987).
De acordo com o jornal O Norte de
4 de março de 1979 que, divulgou a visita feita a Pedra do Ingá, pelo
arqueólogo japonês Yu Massarru Mori, na sua coleta de documentação
cinematográfica para exibição na televisão nipônica, o Dr. Mori “não emitiu
opinião sobre o significado dos desenhos gravados” (FARIA, 1987).
Na
década de 1980, o utópico pesquisador Gabriel
Baraldi (1988 apud BRITO, 2013, p.63), sugeriu que a mensagem do Ingá está
invertida, pois a pedra teria sido virada pela força das enxurradas. Baraldi
afirmou ainda ter comparado sons da língua hitita com o tupi-guarani e que, as
Itaquatiaras do Ingá seriam um testemunho irrefutável de uma civilização
proto-hitita que floresceu na América e que, depois viajou para o Velho Mundo.
Brito
(2013, p. 32) indignou-se mediante a absurda explicação do pesquisador Gabrieli
Baraldi, autor do livro “Os Hititas Americanos” que, imaginou um cenário
“juliverniano” para a ornamentação do monumento do Ingá, dizendo que as
inscrições foram gravadas através de um molde aplicado por alta pressão
mecânica sobre a rocha, a partir da lava de um vulcão próximo que, foi
canalizada artificialmente para este fim por sociedades proto-hititas
americanas.
Naquela época, Luiz Galdino (1988 apud BRITO, 2013, p. 63)
propôs que as inscrições das Itaquatiaras do Ingá, representariam um sistema
ideográfico de culturas pré-clássicas.
2.3 Degeneracionacismo,
neodegeneracionismo e a hipótese da origem alienígena
A
bastante difundida “teoria degeneracionista” lançada pelo botânico Karl
Frederich Phillip von Martius em 1839 sugeria que, povos “civilizados”
estrangeiros chegaram as Américas, sendo os indígenas nativos, descendentes
degenerados dessa cultura civilizadora original. Com a inclusão de novos
adeptos, a nova teoria passou a ser conhecida como “neodegeneracionismo”, pois
passou a considerar que os próprios indígenas nativos tinham uma cultura
superior que, definhou com o tempo (BRITO, 2013).
Para
Funari; Noelli (2021) a teoria do degeneracionismo, muito influente nos meios
intelectuais brasileiros até pouco tempo atrás, foi difundida a partir das
publicações do naturalista Karl Frederich Phillip von Martius, que percorreu o
interior do Brasil para pesquisar informações sobre a fauna e a flora, entre
1817 e 1820. Martius divulgou suas ideias sobre o degeneracionismo em 1839, mas
foi apenas em 1845 que essa teoria passou a ser conhecida no Brasil, quando foi
publicado o seu ensaio "Como se deve escrever a História do Brasil",
vencedor de um concurso realizado pelo IHGB. O naturalista adotou ideias que estavam
em moda desde o século XVIII entre certos círculos intelectuais europeus, como
explicar as diferenças entre os animais das Américas, qualificando-os como
inferiores e aberrações, em relação aos animais do Velho Mundo. A partir dessa
ideia, formulou a tese de que as populações indígenas que ocuparam as Américas
eram originalmente "desenvolvidas", tendo como modelo os astecas, os
maias e os incas, em virtude das suas arquiteturas monumentais, das densas
populações e da agricultura em larga escala, porém, ao descerem dos frios
planaltos andinos, os incas teriam adentrado à floresta tropical, ambiente
considerado inóspito para humanos, passando então por um contínuo processo de
degeneração, com a desintegração da cultura material, da organização social e dos
valores morais, pois acreditava-se que o clima quente e úmido da floresta
induziria a promiscuidade sexual, resultando numa contínua formação de novos
povos cada vez mais degenerados e com línguas cada vez mais diferentes,
explicando assim, a imensa dispersão geográfica dos falantes de várias línguas,
a exemplo dos povos tupis e jês. Martius achava que a semelhança entre as
distintas línguas devia-se a uma separação recente, portanto esses povos não
seriam muito antigos, bem como defendia que a degeneração levaria os indígenas
à extinção, tese imediatamente adotada pelos intelectuais brasileiros do século
XIX e que perdurou intensamente até a década de 1970, inclusive influenciando o
pensamento de antropólogos famosos como Darcy Ribeiro e de órgãos governamentais
como a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI.
Ao
contrário do que afirmava Martius e seus seguidores, cujas principais teorias
foram descritas no livro “O mundo novo” de Antonello Gerbi, publicado em 1996,
para Funari; Noelli (2021, p. 53) e outros estudiosos, a vida na floresta
tropical não resultou em estagnação e decadência, pois a riqueza dos ambientes
tropicais da América do Sul proporcionou a criação e a descoberta de numerosos
alimentos e objetos de uso cotidiano e ritual, além da possibilidade da criação
e variação de muitas práticas sociais, políticas e econômicas, incluindo a
criação de ricos acervos mitológicos e de uma variada cosmologia.
Em
1966, o historiador Horácio de Almeida em sua obra “História da Paraíba”
atribuiu a sociedades pré-históricas desaparecidas de cultura superior à dos
indígenas, a autoria do monumento do Ingá (BRITO, 2013).
Em 1953, o historiador paraibano Clóvis
dos Santos Lima publicou na Revista do Instituto Histórico e Geográfico
Paraibano, o artigo “As Itacoatiaras de
Ingá”, onde apresenta uma versão autóctone da origem dos sinais que, são
creditados aos herdeiros de uma civilização ameríndia decadente (ALMEIDA,
2009).
Mas,
para Brito (2013) surgiu em 1956 com o jovem Francisco Carlos Pessoa Faria, a
primeira “teoria neodegeneracionista” das inscrições nas Itaquatiaras do Ingá,
quando publicou em artigo jornalístico que, teriam sido os sinais do Ingá
talhados por uma raça indígena em fase de decadência que, viveu naquela região
em idade remotíssima.
Martin
(1975, p. 521) considerou que, a ideia de atraso cultural do índio brasileiro e
a crença de que os europeus encontraram os remanescentes de uma antiga cultura
superior em estado de decadência física e moral, é insinuada ou claramente
exposta por muitos autores, como pode-se concluir das palavras de Clóvis Lima:
"Se não encontramos ao tempo da descoberta da América o nosso indígena num
grau de civilização mais adiantado, ao contrário, muito atrasado, deve-se à
involução da raça através de milênios, tempo em que nem mesmo o granito
resistiu”.
Ao
longo do tempo, diversas conjecturas foram lançadas a respeito da autoria das
inscrições, apesar disso, alguns pesquisadores preferiram atribuir os
petróglifos do Ingá ao grupo indígena que ocupava a região da bacia do rio
Paraíba durante a colonização, os Cariri (ALMEIDA, 2009; FARIA, 1987).
No entanto, o missionário Martinho de
Nantes que, em 1671 conviveu com os Cariri, escreveu que aqueles indígenas eram
“sem escrita e sem arte” (BRITO, 2013).
Faria
(1987, p. 44) escreveu que, os estudiosos que se dedicaram ao enigma da autoria
das Itaquatiaras do Ingá se dividem em dois grupos: os alienistas e os
autoctonistas. Alguns alienistas admitiam a obra estrangeira de navegadores
gregos, hebreus, egípcios e fenícios aportados no Ingá intencional ou
acidentalmente muito antes de Cabral, outros alienistas argumentavam que as
inscrições expressam refinados conhecimentos astronômicos, os quais só poderiam
ter sido transmitidos por civilizações extraterrenas. Entre os autoctonistas,
alguns defendiam a autoria aborígene para as inscrições da Pedra do Ingá, mas
divergiam quanto a datação, significação dos grafismos e quanto a própria
autoria específica, dentre esses, um grupo minoritário representado por
Koch-Grünberg, Alfredo de Carvalho e Luciano Jacques de Morais defendiam que as
inscrições são resultado do ócio e da preguiça hereditária dos indígenas,
desprovidas de valor etnográfico e de significação simbólica. Outra corrente
autoctonista acreditava ter florescido no Brasil uma antiquíssima civilização
aborígene avançada que, entrou em declínio após ter atingido o apogeu cultural
e material e dessa forma, os indígenas aqui encontrados pelos europeus seriam
os herdeiros decadentes daquela civilização, sendo algumas Itaquatiaras os vestígios
materiais daquela cultura. Esses autoctonistas em defesa de sua raça troncal,
invocaram o parecer do argentino Florentino Ameghino que, defendia ter o homem
moderno surgido na Argentina, expresso pela frase: “A América é a pátria
original do homem”.
Florentino
Ameghino, estudioso argentino do século XIX, sustentava que, o homem moderno
teria surgido na Argentina, dali espalhando-se por todo o mundo. Essa proposta
foi contestada e abandonada nas primeiras décadas do século XX,
estabelecendo-se uma visão predominante de que o homem chegou às Américas
através do estreito de Bering (FUNARI; NOELLI, 2021).
Do
exposto, é possível aprimorar para melhor explicar a divisão proposta por Faria
(1987) para os estudiosos da autoria das inscrições das Itaquatiaras do Ingá,
classificando-os em três correntes de pensamento: os alienistas que, creditavam
a seres extraterrenos a autoria das inscrições das Itaquatiaras do Ingá; os
degeneracionistas que, atribuíam a uma civilização alóctone, clássica e
avançada que teria florescido na América em um tempo imemorial, a autoria dos
petróglifos do Ingá, sendo os indígenas nativos, descendentes degenerados dessa
cultura fundadora original e os autoctonistas ou neodegeneraconistas,
seguidores do estudioso argentino do século XIX, Florentino Ameghino que,
imputavam a uma antiquíssima civilização aborígene avançada formada pelos
próprios ameríndios, que se desenvolveu nas Américas e que, entrou em declínio
após o apogeu cultural e material, a autoria dos glifos, sendo os indígenas
encontatados pelos europeus, os decadentes herdeiros daquela civilização. Outro
grupo de autoctonistas, admitiam terem sido os silvícolas dos povos Cariri
–Tapuio que habitavam a região, os artistas das inscrições das Itaquatiaras do
Ingá.
Em 1924, Alfredo de Carvalho e o geólogo
Luciano Jacques de Morais coletaram e ilustraram registros rupestres,
publicando o clássico “Inscrições Rupestres no Brasil”, abordando basicamente
as regiões do Rio Grande do Norte e da Paraíba. Esses autores formaram um grupo
de pensamento que, defendia a hipótese dos registros rupestres serem “o
resultado dos despostos ociosos de sucessivas gerações de indígenas,
desprovidas de valor etnográfico e de significação simbólica” (BRITO, 2013,
BRITO, 2013; FARIA, 1987).
Martin
(1975, p. 524) disse que, a simples diversão ou o entretenimento de índios sem
ter o que fazer, os lundus homini,
como foi definido pelo francês Brunet, a serviço de Pedro II, não parece uma
explicação lógica para a autoria dos petróglifos brasileiros, pois gravar
aqueles petróglifos no gnaisse duríssimo, no meio do rio para matar o tempo,
não deveria ser nada divertido.
Já Faria (1987) e Brito (1988) disseram
que, não reconheciam as gravações do Ingá como produto do passatempo ocioso e
do espírito brincalhão e esportivo de nossos indígenas, diferente do que
acreditavam Alfredo de Carvalho e Koch-Grüenberg, entre outros.
Brito (2013) discordou que, os registros
do Ingá seriam uma atividade infrutífera, produto do ócio dos indígenas e sem
maiores consequências ou pretensões, mas antes disso, o produto de uma
atividade com propósito pré-determinado e sobre os quais, nem mesmo os
indígenas souberam decifrar seus significados aos colonizadores europeus.
Martin
(1975, p. 520) disse que, a teoria autoctonista foi formulada por Domingo
Margarinos e Clóvis Lima, entre outros idealizadores de uma raça troncal,
originada nas Américas, como uma escrita primitiva universal que, propagada
pelo mundo originou a escrita fenícia, hebraica, árabe, egípcia, chinesa e
grega. Margarinos, fiel seguidor de Florentino Ameghino, o criador do
paleoíndio autóctone terciário, escreveu em sua obra “Muito Antes de 1500”:
A
paleoepigrafia brasileira e a paleoepigrafia americana são absolutamente
autóctones, aborígenas, originárias do Brasil e da América, berço originário da
grande raça troncal que foi a primeira a falar essa língua também primitiva,
universal, e a traçar essa escrita, também primitiva, universal, mais tarde,
muito mais tarde, levada aos confins orientais da Ásia, que as propalou por
todo o mundo e daí essa semelhança, essa identidade, que as fez, portanto supor
fenícias, hebraicas, árabes, egípcias, gregas ou chinesas. As Itacoatiaras de
Ingá falarão mais alto pela sua maior complexidade e perfeição e,
principalmente, pela sua posição geográfica. Saberão todos que elas representam
ainda o testemunho do fastígio, da cultura e da civilização de homens de eras
distantes, culturas reveladas através de desenhos murais, de baixo relevo,
pinturas de cerâmica e símbolos (MARTIN, 1975, p. 520).
Para Funari; Noelli
(2021) o termo “paleoíndio” denota uma noção ambígua e pouco explícita, sendo
atualmente muito usado para rotular populações mongoloides datadas de doze a
quinze mil anos before present (BP[5]).
Surgiu quando acreditava-se que todos os indígenas das Américas eram
mongoloides e foi usado para descrever as populações do final do Pleistoceno e
do início do Holoceno, sociedades de caçadores coletores, ou seja, que ainda
desconheciam a agricultura. Contudo, o termo foi usado por estudiosos como
Walter Neves para designar grupos anteriores e diferentes dos mongoloides, ou
seja, de biótipo semelhante aos africanos e aborígenes australianos.
Martin
(1975, p. 521) narrou que, a escola autoctonista partidária da existência de
culturas superiores existentes no Brasil há milênios, posteriormente
degeneradas, teve no alagoano Alfredo Brandão, um defensor de imaginação fértil
que, admitiu em sua obra “A Escripta Pré-histórica no Brasil” de 1937, a
existência de uma língua e de uma escrita primitiva universal. Brandão, depois
de levantar a hipótese de que as inscrições brasileiras sobre rochas, são a
escrita mãe de todos os sistemas atualmente existentes e usando o sistema boustrophedon, passa a decifrar e
traduzir algumas das inscrições do país conhecidas em sua época, entre as
quais, dedica especial atenção à pedra lavrada da Paraíba. Para Brandão, a
inscrição forma signos mnemônicos isolados, sem conexão entre si, formando
temas e assuntos diferentes e apesar de não conhecer os sinais pessoalmente,
uma vez que se baseou nas inscrições da Pedra de Retumba, aventurou-se a
traduzir um grupo deles, nos quais encontrou um sentido cosmogônico. Eis aqui a
tradução: "O Senhor Deus Mbú, o grande criador, semeou os germes, fecundou
a terra e fez surgir o fogo, e fez surgir o homem (ou a planta)".
Martin
(1975, p. 522) alertou que, possivelmente a tradução de Alfredo Brandão não se
referia à inscrição de Ingá, já que ele a citou em sua obra “A Escrita
Pré-histórica
Brasil”
de 1937, como "pedra lavrada da Parahyba” e embora alguns dos sinais
desenhados por Brandão em seu livro, podem ser identificados na Pedra do Ingá,
poderiam ser também de outra inscrição paraibana, descoberta pelo engenheiro de
minas Francisco Soares da Silva Retumba que, aliás, tem sido confundida
repetidas vezes com as Itaquatiaras do Ingá e considerou que, seja qual for a
inscrição a qual Brandão se referiu, a tradução é totalmente absurda.
Martin
(2013, p. 26) descreveu que o livro de Brandão está dedicado à memória de
Ladislau Netto, “o sábio archeologo patrício que primeiro procurou interpretar
as inscrições pré-historicas do Brasil” e seguindo os passos do mestre, Brandão
já começa com os temas preferidos dos protocientistas, ou seja, o mito da
Atlântida e as escritas de civilizações perdidas representadas nos rochedos do
Brasil. Dá, porém, um passo à frente e se filia ao grupo dos que acreditam que
“os caracteres do Brasil sejam uma escripta pré-historica pertencente a uma
civilização primitiva” e portanto, separa os registros rupestres brasileiros da
filiação púnico-semítica, considerando-os manifestação de uma língua primitiva
universal e de uma escrita primitiva também universal “mãe de todas as escriptas e de todos os
alphabetos modernos”. Essa escrita resultava da longa evolução do grafismo para
representar o pensamento, evoluindo em certas regiões, estacionando em outras,
até desaparecer, que foi o que teria acontecido com os nossos aborígenes.
No tempo em que os pesquisadores do
mundo todo, preocupavam-se com os registros do Ingá, o professor Alfredo
Coutinho de Medeiros Falcão escreveu na Revista Brasileira de Arqueologia,
número 1, sobre as opiniões dos estudiosos que tiveram acesso aos petróglifos:
A maioria dos
estudiosos que examinaram grande parte dessas gravações se filia ao grupo que
atribui à obra de populações indígenas locais. Entre estes destacamos Ladislau
Netto, Angione Costa, Teodoro Sampaio, Retumba, Branner, Alfredo de Carvalho e,
o etnólogo alemão Koch-Grüenberg, para citar apenas alguns. Mas, é portanto,
desde logo, citar-se o geólogo brasileiro Dr. Luciano Jacques de Morais, que
reuniu a opinião de vários autores afeitos ao estudo de tais gravações. Com
bases nesses elementos e nas suas próprias observações, acaba concluindo,
enfática e taxativamente, que “as inscrições rupestres do Brasil devem ser
atribuídas aos indígenas, e são o resultado dos desportos ociosos de sucessivas
gerações”. Cita o autor, constantemente, o estudioso Alfredo de Carvalho, dando
ênfase especial ao que este transmite como informação obtida do etnólogo
Grüenberg. Este pesquisador alemão permaneceu em íntima convivência com os
indígenas brasileiros, concluindo nessa sua longa experiência de dois anos com
os silvícolas, “serem as inscrições principalmente manifestações esportivas de
um ingênuo senso artístico, e raras vezes, ou nunca possuírem significação
intencional”. Diz Koch-Grüenberg que “os sulcos não são produto de trabalho
contínuo e diligente de um indivíduo e sim a coparticipação sucessiva de muitos
e talvez mesmo de gerações”. Da mesma forma se pronuncia Martius (BRITO, 1988,
p. 49).
Em outro trecho esclarecedor Alfredo de
Carvalho é citado por Luciano Jacques:
Da mesma forma
que o indígena, em horas de ócio, se arma dum pedaço de carvão e traça, nas
paredes de sua choupana, figuras as mais multiformes, assim também o aspecto do
paredão liso duma rocha o tenta ao exercício duma arte infantil. Em vez do
pedaço de carvão, serve-se duma pedra aguda e esboça um desenho qualquer.
Tempos após um outro indígena passa pelo mesmo lugar, fere-lhe a vista a figura
traçada na superfície escura da rocha e, obedecendo ao instinto de imitação, pega
duma pedra e, brincando, vai aprofundando os contornos do desenho original.
Outro indígena segue seu exemplo e assim por diante, cada vez mais se
pronunciam os sulcos e, pouco a pouco, talvez, só depois de muitas gerações,
chegam a ter a profundidade hoje tão admirada pela maioria dos investigadores e
por eles consideradas como resultado de lavor prodigioso dum só individuo, ou
atribuídos a um grau de cultura superior ... (BRITO, 1988, p. 49).
O professor Alfredo Coutinho em seu
artigo comentou ainda que, o estudioso de algumas das gravações lapidares da
Paraíba, Teodoro Sampaio, foi citado por Angione Costa por discordar do parecer
do indigenista Koch-Grüenberg, classificando essas gravações como obras do
trabalho ocioso dos índios. Disse Teodoro Sampaio das inscrições que examinou:
Maior valor se
lhes deve atribuir do que a de simples lundus
homini produto sem significação, de mero passatempo ou de recreação de
selvagens ociosos. As inscrições lapidares na América Latina acodem a um
sentimento religioso e, no Brasil, a mais das vezes tem um caráter funerário
acessório das necrópolis do gentio primitivo. Encontram-se nas penédias, nas
encostas de serra, nos penedos isolados, nos rochedos à margem dos rios
encachoeirados e nos lugares e cavernas que serviam de cemitério de índios”
(BRITO, 1988, p. 50).
Angione Costa esclareceu por outro lado que, Teodoro Sampaio terminou
atribuindo as inscrições lapidares que examinou ao povo Gê, presumindo que esses, banidos da bacia Amazônica, desceram pela
costa à procura de passagem para o sertão, aonde se instalaram, longe do grupo
invasor que os perseguia, vivendo em diferentes regiões, divididos em tribos,
das quais se distinguem os representantes encontrados pelos europeus que, nem o
tempo e o trato dos civilizados conseguiram extinguir (BRITO, 1988, p.50).
Martin
(1975, p. 536) discordou da opinião poeticamente expressa de Angyone Costa,
quando, ao se referir aos petróglifos brasileiros, disse:
Grito
de dor ou de amargura, pedido de alimento ou de socorro, indicação de caminho
ou de cemitério, brinco inocente de criança ou ordem imperativa de mando,
pedido de paz, reclamo de fêmea, angústia ou tortura, as inscrições são
problemas à margem, são questões, quando muito, laterais, no programa da nossa
arqueologia (MARTIN, 1975, p. 536).
Para
Martin (1975, p. 537) não é verdade que a "pretensa escrita" dos
petróglifos, como disse Angyone Costa, não ofereça nenhum valor documental,
pois é uma parte pouco compreendida, mas nem por isso menos importante, da
arqueologia brasileira, assim é preciso buscar nos registros a vida espiritual
do indígena e não na mensagem indecifrável dos súditos do rei Salomão,
mistificando através de tentativas absurdas para demonstrar cientificamente,
origens remotas, fantásticas e desconhecidas de civilizações chegadas do Velho
Mundo, para as primitivas povoações indígenas do Brasil.
Segundo
Martin (1975, p. 536) os petróglifos paraibanos, esculpidos pela pouco
conhecida região do Cariri, denotam uma profunda capacidade de abstração, própria
de culturas em estágio cultural agrícola, com uma carga espiritual complexa de
mitos e crenças mágicas, à semelhança das pinturas e gravuras esquemáticas que
aparecem em ídolos e monumentos megalíticos do neolítico europeu, formando
parte do conteúdo espiritual dos povos aborígenes do Brasil e constituindo um
todo com sua cultura material que, deve ser protegida e estudada e não ser
deixada de lado, porque seria negar uma parte importante da mente e da cultura
humanas.
Brito (1988, p.54) contou que, José
Anthero Pereira Junior em uma série de trabalhos sobre os litógrafos da
Paraíba, publicados na Revista do Arquivo Municipal da Prefeitura de São Paulo,
investiu decididamente contra os conceitos de estudiosos como Alfredo de
Carvalho e Koch-Grüenberg, dizendo que: “Tal conclusão, apressamo-nos a
declarar, diz respeito à famigerada
teoria de que sendo o índio por natureza indolente, não poderia gravar a pedra pelo que a profundidade dos traços
era explicável pela colaboração de muitas gerações”.
Em outro trabalho, Alfredo de Carvalho,
fiel seguidor do sábio alemão, replicou:
Pereira Junior,
diante do monumento megalítico do Ingá, chega a ser patético quando afirma: “É
ela o monumento arqueológico brasileiro de maior valor em seu gênero e, embora
a sua origem seja ainda presa do mistério, a sua presença é uma afirmação, é
argumento valiosíssimo a anteposto à
teoria dos que negaram, dos que ainda negam a possibilidade de uma cultura de
nível mais elevado a povos que habitaram terras brasileiras. É ela um documento
lavrado em pedra, é uma credencial legítima da cultura da gente que a insculpiu
(BRITO, 1988, p.54).
Ao
longo dos anos 1960 a doutrina etnonímia de Leon Clerot gerou muitos adeptos
entre os estudiosos da arqueologia brasileira como o poeta Gonçalves Dias,
Alfredo Brandão e Arthur Bernardo Ramos. A teoria foi usada como método para
classificar testemunhos pré-históricos de acordo com suas supostas referências
etnográficas, por isso, foi também acatada pela arqueóloga Gabriela Martin e
pelo historiador Josemir Camilo. Curiosamente mais tarde, muitos seguidores de
Leon Clerot a exemplo de Balduíno Lélis, Carlos Azevedo, Francisco Faria, Ruth
Trindade de Carvalho, Gabriela Martin e Cleide Erice Pinto Neves, abandonaram a
ideia de atribuir aos Cariri a autoria para as inscrições nas Itaquatiaras do
Ingá e opinaram que a autoria das inscrições na Pedra do Ingá remonta a
sociedades pré-históricas (BRITO, 2013).
Em
1969, o engenheiro, arqueólogo e etnógrafo amador paraibano Leon F. R. Clerot,
publicou “30 anos na Paraíba - memórias corográficas e outras memórias” (1969),
com registros rupestres feitos entre as décadas de 1940 e 1950, onde concordava
com a versão autóctone, sendo o primeiro a atribuir aos índios Cariri a autoria
para as inscrições nas Itaquatiaras do Ingá e para quem, os petróglifos
“parecem indicar a fixação de uma sequência de ideias” que, “marcariam, talvez,
roteiros testemunhos de sua passagem e de sua fixação” (ALMEIDA, 2009; FARIA,
1987).
Para Brito (2013), Martin (2013) e Santos
(2009) o indígena brasileiro só se tornou “índio” a partir do ano 1500, pois a
unificação das nações indígenas como "índios" é como disse Darcy
Ribeiro, em seu livro “Os índios e a Civilização” (1970): "índios por
autodeterminação, já que não sabem a que tribo se filiam". Antes da
chegada dos europeus, existiam no Brasil uma miríade de povos indígenas e ainda
se sabe muito pouco sobre os grupos humanos proto-históricos da América do Sul
que antecederam os indígenas e como faltam referências sobre os povos indígenas
do Cariri Velho, não é prudente filiar às Itaquatiaras do Ingá à cultura
Tapuio-Cariri, porque essa hipótese está baseada na controversa etnogeografia
do território brasileiro formulada por historiadores antigos, já que, nenhum
documento colonial é capaz de relacionar os grupos étnicos que ocuparam a
Paraíba no tempo que antecedeu a chegada dos europeus.
O
uso do termo “índio” para descrever os habitantes das Américas tem sido
discutido, já que essa foi a terminologia usada pelos europeus para os povos
que aqui encontraram e que, supuseram equivocadamente serem da Índia. Portanto,
como não há relação direta entre os habitantes das Américas e os habitantes da
Índia, também os termos “paleoíndio” ou “paleoautóctones” não resolvem a
questão, pois a própria noção de autoctonia é problemática, uma vez que,
ninguém é autóctone na América e todos os seres humanos, inclusive os índigenas
vieram da África (FUNARI; NOELLI, 2021).
Falando em um evento para empresários espanhóis e argentinos e ao primeiro-ministro da Espanha Pedro Sánchez, durante um evento na Casa Rosada, o presidente da Argentina Alberto Fernandéz, disse: “Os mexicanos vieram dos índios, os brasileiros saíram da selva, mas nós os argentinos, chegamos de barcos. E eram barcos que vieram de lá, da Europa”. Fernández falava sobre as relações entre seu país e a Europa quando fez a citação, declarando-se um "europeísta" e bajulando os empresários europeus. Fernandéz disse estar citando o poeta mexicano Octavio Paz, vencedor de um Prêmio Nobel de Literatura, mas na verdade mencionou um trecho da letra da música “Llegamos de los barcos” lançada em 1982 pelo músico argentino Litto Nebbia. A letra da música diz: "Los brasileros salen de la selva / Los mejicanos vienen de los indios / Pero nosotros, los argentinos / Llegamos de los barcos". Possivelmente, o presidente se confundiu com a frase “os mexicanos descendem dos astecas, os peruanos dos incas e os argentinos, dos navios”, esta de autoria do poeta mexicano. Diante da repercussão negativa, o presidente argentino pediu desculpas através de mensagens em redes sociais mas, enquanto isso, o presidente do Brasil Jair Messias Bolsonaro replicou, com diversas fotos entre os indígenas brasileiros nas redes sociais e a palavra “selva” (G1 MUNDO, 2021. Há um dito popular da tradição oral portenha que diz: “Quando um argentino deseja cometer suicídio, salta do alto do seu próprio ego”.
Brito (2013) contou que o Sítio Arqueológico da Pedra de Retumba em Pedra Lavrada, na Paraíba, foi primeiramente referenciado pelo naturalista Louis Jacques Brunet por volta de 1858 mas, somente em 1886 o engenheiro de minas Francisco Soares da Silva Retumba dirigiu ao presidente da província, um relatório onde mencionava a existência de inscrições em uma grande pedra, no povoado de Pedra Lavrada. Retumba copiou integralmente as inscrições, enviou em apêndice junto com a carta e assim o desenho correu o mundo, tornando-se famoso. A Pedra de Retumba atualmente encontra-se submersa numa represa do rio Seridó.
O professor Jacques Ramondot, um dos fundadores da Sociedade de Pesquisas Arqueológicas da França que, dedicou-se por alguns anos ao estudo das Itaquatiaras do Ingá, particularmente acreditou que o painel do Ingá fosse obra de uma população autóctone pré-histórica que, habitava a região muito antes dos indígenas conhecidos: “uma população de raça diferente, talvez dessa raça branca tão falada na América do Sul, fundadora das culturas pré-incaicas, cujos vestígios foram encontrados em vários lugares do continente”. O professor concluiu conforme começou: “Resta-nos uma indagação a respeito dessa raça e da sua origem”. Ramondot disse que as inscrições do Ingá poderiam representar o testemunho de um culto primitivo às forças da natureza ou, a transmissão gráfica para a posteridade da visita de astronautas aos indígenas da região e que, gostaria de acreditar em sonhos extraterrestres, ou de pelo menos, ter provas suficientes para concluir que as inscrições do Ingá foram feitas por seres de outros planetas (BRITO, 1988, p. 46).
Para o escritor e cronista paraibano Antônio Freire, citado
por Faria (1987, p. 49), autor de “Revoltas e Repentes” (1974) os lavores do
Ingá “não foram insculpidos por um índio qualquer” e são “o produto de
civilizações alienígenas aportadas aqui em épocas remotíssimas”.
Em
1969, o hoteleiro suíço Érick Von Daniken lançou o best-seller “Eram os Deuses Astronautas?”, em que cogitava serem os
deuses astronautas que, num passado longínquo teriam visitado a Terra. Brito
(2013, p. 41) deduziu que, nos anos 1970, Daniken publicou uma foto da Pedra do
Ingá num dos seus livros, dizendo tratar-se de um indicio da presença de antigos
cosmonautas na região, tornando-se o primeiro a sugerir esta hipótese para as
inscrições do monólito do Ingá. A partir da década de 1970, predominou então a
ideia de que “civilizações extraterrenas” teriam sido as responsáveis pelas
inscrições lavradas na Pedra do Ingá.
Na década de 1980 surgiu um novo plantel de pesquisadores e junto com
esses, novas e antigas concepções sobre a ornamentação do monumento. Faria
(1987) afirmou em sua obra “Os Astrônomos Pré-históricos do Ingá” que, “foi
invocada a hipótese de serem aquelas inscrições provas materiais de contatos
aborígenes com civilizações extraterrestres na pré-história”. Faria (1987, p.
42) argumentou com o relato que, no século XVII, os indígenas do Maranhão
disseram ao padre capuchinho francês Yves D-Évreaux (2009) que, os petróglifos
daquele lugar eram obra do grande marata, ente misterioso e divino.
Brito (1988) baseado na existência dos
registros rupestres, propôs usar as teorias científicas para supor a presença
de enviados de outro mundo galáctico, capazes de transportar-se em velocidade
superior à da luz, desembarcando diante da Pedra do Ingá e registrando sua
passagem através de escritos cujos significados, ainda hoje, vão além do
conhecimento humano e argumentou que, quando os portugueses foram informados
sobre as inscrições do Ingá, verificaram que os indígenas Cariri que habitavam
a região, ainda viviam na idade da pedra polida, desconhecendo os metais ou
qualquer outro instrumento capaz de realizar, com sucesso, os simétricos e
profundos traços de perfeito talhe e excelente polimento, por isso, para o
autor, a ideia da presença de extraterrestres no Ingá, embora pareça absurda,
não deve ser abandonada.
Brito (2013, p.42) escreveu que, o jornalista Gilvan de
Brito, em seu livro “Viagem ao desconhecido”, lançado em 1988, elencou
pesquisadores para apresentar múltiplas interpretações, identificando nas Itaquatiaras do Ingá, configurações astronômicas e
astrológicas e ao mesmo tempo em que considera o monumento lítico um possível
santuário ou túmulo, postula que, as Itaquatiaras do Ingá estariam relacionadas
com o lendário continente de Atlântida, a extraterrenos e as pirâmides egípcias
para, finalmente, através de elaborados cálculos matemáticos sugerir um
calendário lunar, uma multiplicidade por três, uma fórmula de produção de
energia quântica para viagens a velocidade da luz, além de registros de
explosões nucleares e foguetes de propulsão, contidos nas inscrições do
monumento do Ingá.
Brito
(2013, p. 32) criticou Gilberto dos Santos que, presidiu o Centro Paraibano de
Ufologia e atribuiu a autoria dos petróglifos do Ingá, a visitantes celestes
que teriam burilado a rocha de gnaisse usando raio laser. Sobre isso, o
historiador pensa que, cosmonautas tecnologicamente capazes de fazer viagens
intergalácticas, não se ocupariam em gravar símbolos em rudes rochas para a
posteridade.
Brito
(2013, p. 41) escreveu que, em 1996, o jornalista Pablo Vilarrubia Mauso que,
visitou muitos sítios arqueológicos da Paraíba financiado pelo Governo do
Estado, tendo escrito matérias em revistas espanholas e publicado o livro
“Mistérios do Brasil”, teria dito que em
uma de suas visitas à Paraíba, numa noite de luar, a insônia levou-o a Pedra do
Ingá e que, de frente ao monumento teve
uma “projeção mental”, na qual viu um astronauta alienígena orientando os
indígenas sobre o uso de pistolas que, acionadas gravavam na rocha as
inscrições.
Mais tarde em 2018, estiveram no Brasil duas grandes celebridades da ufologia mundial, Érick Von Daniken e o apresentador Giorgio Tsouklos, os quais em diversas entrevistas mencionaram a Pedra do Ingá, que foi então exibida na série do programa “Alienígenas do Passado” do canal Americano History (MOTA, 2020).
2.4 O mito de Sumé e o mito do Pâebirú
Vasconcelos
(1865 apud METRAUX, 1950, p. 51) em sua “Crônica da Companhia de Jesus do
Estado do Brasil” contou que, segundo a tradição corrente entre os tupinambás,
haviam estes recebido, em tempos imemoriais, a visita de homens brancos,
vestidos e barbudos, que:
Diziam
coisas de um Deus, e da outra vida, um dos quais se chamava Sumé, que quer
dizer Tomé; e que estes não foram admitidos de seus antepassados, e se
acolheram para outras partes do mundo; ensinando-lhes contudo primeiro o modo
de plantar, e colher o fruto do principal mantimento de que usam, chamado
mandioca (METRAUX, 1950, p. 51).
De
acordo com Metraux (1950, p. 39) o papel atribuído pelos tupinambás aos seus
heróis civilizadores, corresponde, aquele imputado aos deuses nas sociedades
mais avançadas. Para os tupinambás, assim como para a maioria das etnias
indígenas sul-americanas, alguns personagens que se convencionou chamar de
“heróis civilizadores”, dotados de poderes sobrenaturais inerentes aos
feiticeiros, foram os artífices do universo.
Metraux (1950) descreveu que, foi Sommay ou Sumé, herói civilizador, filho do herói civilizador Maire-Monan, quem ensinou aos indígenas a maneira de cultivar certas raízes e transmitiu o conhecimento e o uso do fogo. Sommay foi pai dos gêmeos míticos, Tamendonare e Ariconte, de índoles opostas e fundamentais da mitologia tupinambá, por darem origem a dois novos povos, de Tamendonare originaram-se os tupinambás e de Ariconte surgiram os Temininó.
Pinto (1993) estudou nos símbolos do Ingá uma
relação com a simbologia cristã, judaica e islâmica, sugerindo que um homônimo
de São Tomé, apóstolo de Jesus Cristo, chamado Sumé, esteve em terras paraibanas e deixou impresso nas
Itaquatiaras do Ingá um tratado cosmogônico fundado no trinitarismo, além das
suas pegadas.
Pinto (1993, p.11), pesquisadora do renomado
Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba, citou a “Crônica da Companhia de
Jesus do Estado do Brasil” de 1663, escrita pelo padre jesuíta Simão de
Vasconcelos sobre as marcas de pés ou pegadas encontradas na “Pedra do Sino” do
Ingá e em várias rochas de sítios da América e especialmente no Brasil:
Na altura da Paraíba, em sete graus da
parte do sul para o sertão, em um lugar ermo, deserto e solitário, se vê outro
penedo com duas pegadas de em homem maior, e outras de outro mais pequeno, e
certas letras insculpidas na pedra. Este é achado cada passo dos índios, que de
suas aldeias vão à caça; e têm para si, que aquelas pegadas são de São Tomé
[...] As letras, pretenderam os indígenas arremedar aos padres nas aldeias, mas
não se entendeu até agora a sua significação (PINTO, 1993, p. 11).
Pinto (1993) no livro “As pegadas de São Tomé”,
entrelaçou a peregrinação de São Tomé na América com a Paraíba e com as Itaquatiaras
do Ingá, através da “Pedra do Som ou Pedra do Sino”, usando para isso, os
sinais gravados naquela rocha. O interesse pela rocha dá-se ao fato de que,
quando nela se bate com outra rocha, emite um som metálico que ressoa como um
sino, como se fosse oca, mas foi perfurada e não é. Para a autora, na “Pedra do
Sino” estão gravadas duas pegadas de gente, uma maior e outra menor que, são as
pegadas de São Tomé.
Em 1864, a edição de “Crônica da Companhia de Jesus”
do padre jesuíta Simão de Vasconcelos, reconheceu que, a lenda de São Tomé foi
uma fraude cometida pelos missionários com o propósito de converter os nativos,
convencendo-os de que os novos missionários eram os sucessores imediatos do
grande apóstolo (ALMEIDA, 2009; BRITO, 1988).
Imagem 3: A Pedra do Sino e as “pegadas de São Tomé”.
Foto por Antonio Leite Júnior em Ingá, Paraíba, Brasil.
Em 1975, os músicos Lula Côrtes e Zé Ramalho lançaram o disco de vinil Paêbirú, um clássico psicodélico do pós-tropicalismo, considerado o mais raro e álbum fundador de uma psicodelia genuinamente brasileira com elementos da cultura indígena, através do Movimento Psicodélico Brasileiro, chamado “desbundo nordestino” (BRAZILIAN CULTURE, 2021; BRITO, 2013; CATOIRA & AZEVEDO NETTO, 2018; LICHOTE, 2011).
Imagem 4: Capa do álbum de vinil Paêbirú.
Disponível em: < http://www.brazilcult.com/lula-cortes-ze-ramalho-paebiru>.
A principal inspiração dos músicos na criação do disco foi a Pedra do Ingá, no interior da Paraíba. Lula Côrtes e Zé Ramalho caminharam até a pedra e ao longo dessa aventura, teriam consumido cogumelos alucinógenos (MARIA, 2019).
No álbum, os elementos: terra, ar, fogo e água, servem para
nomear cada um dos quatro lados do duplo long
play que, vem acompanhado de um
livro com estudos sobre a região e informações sobre a lenda do “Caminho da
Montanha do Sol” (LICHOTE,
2011).
O “Caminho da Montanha do Sol” ou “Caminho do Pâebirú”, seria uma
estrada construída pelos índios há mais de mil anos, que ligava o Oceano
Pacífico ao Oceano Atlântico, Machu
Pichu à Paraíba e que passa pelo Vale do Ivaí, no Paraná. O nome do disco
era para ter sido Peabiru, cujo
significado é próximo de "Caminho para o Peru", mas um equívoco ao
grafar o nome na capa do disco, resultou em Paêbirú
(MARIA, 2019).
O álbum é pioneiro numa corrente mística sobre as
inscrições do Ingá, onde os símbolos na pedra são vistos como obra de um deus
cósmico, que indicam através dos quatro elementos, uma sabedoria milenar de
caminhos estelares, onde a pedra seria um templo no roteiro de Sumé, um feiticeiro, meio índio e meio
deus, que teria viajado pela Paraíba, ensinando aos índios os segredos da
natureza (BRITO, 2013; CATOIRA & AZEVEDO NETTO, 2018).
Das mil cópias iniciais do álbum Paêbirú, somente 300 puderam ser salvas da enchente do Rio Capibaribe, no Recife, capital do estado de Pernambuco, que inundou grande parte do prédio da gravadora. (BRAZILIAN CULTURE, 2021; BRITO, 2013; CATOIRA & AZEVEDO NETTO, 2018; LICHOTE, 2011).
No álbum, os elementos: terra, ar, fogo e água, servem para nomear cada um dos quatro lados do duplo long play que, vem acompanhado de um livro com estudos sobre a região e informações sobre a lenda do “Caminho da Montanha do Sol” (LICHOTE, 2011).
O “Caminho da Montanha do Sol” ou “Caminho do Pâebirú”, seria uma
estrada construída pelos índios há mais de mil anos, que ligava o Oceano
Pacífico ao Oceano Atlântico, Machu
Pichu à Paraíba e que passa pelo Vale do Ivaí, no Paraná. O nome do disco
era para ter sido Peabiru, cujo
significado é próximo de "Caminho para o Peru", mas um equívoco ao
grafar o nome na capa do disco, resultou em Paêbirú
(MARIA, 2019).
O álbum é pioneiro numa corrente mística sobre as
inscrições do Ingá, onde os símbolos na pedra são vistos como obra de um deus
cósmico, que indicam através dos quatro elementos, uma sabedoria milenar de
caminhos estelares, onde a pedra seria um templo no roteiro de Sumé, um feiticeiro, meio índio e meio
deus, que teria viajado pela Paraíba, ensinando aos índios os segredos da
natureza (BRITO, 2013; CATOIRA & AZEVEDO NETTO, 2018).
Das mil cópias iniciais do álbum Paêbirú, somente 300 puderam ser salvas da enchente do Rio Capibaribe, no Recife, capital do estado de Pernambuco, que inundou grande parte do prédio da gravadora. (BRAZILIAN CULTURE, 2021; BRITO, 2013; CATOIRA & AZEVEDO NETTO, 2018; LICHOTE, 2011).
2.5 Os glifos das Itaquatiaras do Ingá e as tabuletas da Ilha de Páscoa
Faria
(1987, p. 49) relatou que, entre 1943 e 1946, José Anthero Pereira Junior,
publicou uma série de artigos na Revista do Arquivo Municipal de São Paulo, com
farta documentação fotográfica e extensa bibliografia dos seus estudos sobre a
pedra lavrada do Ingá e outras Itaquatiaras, concluindo que, os glifos nas
Itaquatiaras do Ingá são “de natureza idêntica aos caracteres das tabuletas da
Ilha de Páscoa”.
Os
estudos de José Anthero Pereira Junior se estenderam entre os anos de 1941 e
1967, mas disposto a não se preocupar com distâncias, cordilheiras ou mares,
Pereira Junior associava os sinais do Ingá aos caracteres das tabuletas rongorongo, usada por habitantes da Ilha
de Páscoa, no oceano Pacífico (ALMEIDA, 2009; BRITO, 2013; MARTIN, 2013; PESSIS
et al, 2019).
Imagem 5: tabuleta rongorongo de Aruku Kurenga
Disponível em:< http://babellinguas.blogspot.com/2008/03/ilha-de-pscoa-repleta-de-mistrios.html>.
Assim,
o monumento do Ingá poderia ser o primeiro entre os descobertos na América que,
atesta ligações entre a civilização Civa e das ilhas da Oceania com os povos originários
da América do Sul (BRITO, 2013).
Martin
(1975, p. 523) observou que, os sinais da Pedra de Ingá não seguem uma ordem de
tamanho nem de direção, do mesmo tamanho e compondo linhas, ao contrário das
famosas tabuletas da Ilha de Páscoa. Para a autora, a comparação dos sinais de
Ingá com as tabuletas da Ilha de Páscoa feitas por José Anthero Pereira Junior,
não resistem a uma análise séria, sendo por demais conhecidas as origens
melanésicas e polinésicas da cultura pascoana. Além disso, considerou que,
existem sinais universais que se repetem em muitas culturas sem que tenha
havido contato entre elas e tentar relacioná-las somente baseando-se nas
possíveis semelhanças através de grandes distâncias geográficas, é sempre
perigoso.
De
acordo com Metraux (1978, p. 226) vinte e uma tabuletas, um bastão e três ou
quatro rei-miro, ou peitorais
cobertos com sinais, formam o conjunto completo dos chamados textos
hieroglíficos da Ilha de Páscoa, cuja excelente qualidade do traçado, com
contornos vivos e vigorosos, faz esquecer o esforço que o artista fez, para
talhar a madeira com um dente de tubarão ou, com um buril de obsidiana. Os
símbolos gravados, usualmente idênticos em cada tabuleta, refletem o meio
cultural e geográfico da ilha, pois representam animais e plantas da fauna e
flora da ilha; são pássaros, peixes, crustáceos, plantas, objetos diversos como
enxós, remos de dança, peitorais, pingentes de madeira e desenhos geométricos.
Um simbolismo estranho aparece em inúmeras representações que combinam corpos
humanos terminados com desenhos geométricos, triângulos ou losangos enfeitados
com orelhas, mãos unidas a barras e homens com atributos animais.
Para
Metraux (1978, p.227) as tabuletas da Ilha de Páscoa são placas simples de
madeira, aliás bastante rara na ilha, as quais não se deu uma forma precisa
para não reduzir a sua superfície. Os símbolos, todos do mesmo tamanho, estão
dispostos em ordem ao longo de estrias na madeira. Os sinais de cada fileira
são invertidos em relação aos que se encontram em cima e em baixo, de forma
que, ao fim de cada linha, o leitor deve virar a tabuleta para que possa ver as
imagens em sua posição normal.
Metraux
(1978, p.241) examinou minuciosamente várias tabuletas e concluiu que, são
muito raras as séries de símbolos que seguem a mesma ordem, pois cada sinal tem
um grande número de variantes que não poderiam ser considerados símbolos
independentes, por outro lado, os mesmos símbolos combinam-se frequentemente
num único desenho. O antropólogo calculou a percentagem de símbolos empregados
na tabuleta de Aruku Kurenga, sendo
que, num total de novecentos sinais, a imagem da andorinha do mar que,
encarnava o deus Makemake, aparece
repetida cento e oitenta e três vezes. Um ser cuja cabeça é representada por um
losango é reproduzido noventa e quatro vezes. As figuras de homens e de
pássaros representam cerca de um terço do total de figuras ou, noventa
símbolos. Com base nesses achados, Metraux (1978) deduziu que, essa proporção
entre o número de símbolos, segundo sua natureza, testemunha muito pouco a
favor de um sistema de escrita.
Metraux
(1978, p. 229) coletou informações com Teao,
sobrinho de um ancião que havia estudado na escola da classe sacerdotal, o
qual contou ser o conhecimento das tabuletas, um antigo privilégio de um grupo
de bardos, cantadores e recitadores chamados de rongorongo, oriundos de famílias nobres e muitos deles aparentados
com reis. Os bardos conheciam a genealogia, os hinos, as tradições e as
transmitiam para seus alunos em cabanas especiais. Frequentemente, os
discípulos dos bardos eram seus próprios filhos ou, os filhos das famílias
ricas. Durante os primeiros anos do ensino, os alunos deveriam decorar os
cânticos que recitavam, em que, cada gravura da tabuleta, correspondia a um
cântico recitativo de poemas que, referiam-se a vida, ao amor e a morte. Muitos
desses poemas eram fórmulas mágicas que tinham o poder de salvar pessoas,
multiplicar plantas ou animais, outros eram panegíricos, usados em solenidades
preparadas para os chefes.
As
lembranças de Te haha, contadas por
seu sobrinho, referem-se ao reinado de Nga-ara
que, ao que parece, foi um homem culto. Quando o rei morreu, foi transportado
numa padiola feita com tabuletas que, foram enterradas com ele em sua última
morada (METRAUX, 1978, p. 230).
As
tabuletas eram objetos sagrados e cercadas por tabus. De acordo com Teao, o mágico só precisava pronunciar
uma fórmula mágica para dar vida a um dos animais representados que, então,
libertado da madeira penetrava na vítima e a matava (METRAUX, 1978, p. 232).
Metraux
(1978, p. 236 - 237) contou que, quando em 1914, tentou-se pela última vez
consultar a tradição oral, Te Haha,
tio de Teao, já havia morrido em um
leprosário, quinze dias depois de uma entrevista, na qual ele ainda havia
murmurado algumas estrofes de um cântico recitativo e desenhado, com mão
trêmula, alguns símbolos. A única observação importante na ocasião, foi que
nenhum dos sinais se referiam a palavras ou grupos de palavras especiais, os
símbolos pareciam ser pontos de referência para quem os recitava. O autor
lamentou que desfez-se assim, para sempre, a última esperança de conhecer o
real significado das tabuletas da Ilha de Páscoa.
Metraux
(1978, p. 233) considerou que, nada justifica a afirmação dos muitos que
estudaram as tabuletas da Ilha de Páscoa e quiseram ver nelas listas
genealógicas, pois em nenhuma ocasião, os indígenas pascoanos estabeleceram
aproximações entre as tabuletas e suas genealogias, como também não há nada no
aspecto ou na ordem dos sinais que, sugira a enumeração de nomes.
Segundo
Brito (1988, p. 75) rongorongo é um
sistema de escrita igual ao existente na Polinésia, ou seja, as palavras de uma
linha eram feitas da direita para esquerda e as da linha seguinte, ao inverso,
da esquerda para direita. Sua escrita era composta de cento e vinte pictogramas
que, se combinavam em mais de mil maneiras, onde cada imagem associada ou não,
representava uma palavra.
Para
Brito (1988, p. 75) a promiscuidade sexual entre os pascoanos permitia a
existência da família sindiásmica, onde os homens eram maridos de todas as
mulheres e as mulheres esposas de todos os homens. Dessa forma, a população na
ilha cresceu vertiginosamente ao ponto de não haver como alimentar a todos,
abrindo assim espaço para o canibalismo que levou a raça à quase extinção. Os
poucos que restaram, perderam as suas identidades culturais e nada sabem ao
respeito da escrita ou das estátuas gigantes.
Brito
(1988, p. 75) citou que, o pesquisador húngaro De Hevesy que afirmou estar a
escrita dos pascoanos relacionada a um sistema utilizado pelos povos
pré-arianos das cidades de Mohenjo Daro
e Harappa, no vale do Indo e que, as
semelhanças entre os signos da Pedra do Ingá e das tabuletas da Ilha de Páscoa
vão além de traços e sequenciais alfabéticas, apresentando também pontos
capsulares, na maioria múltiplos de três, como também acontece no monumento do
Ingá.
Nem mesmo Brito (2013) embora propositalmente, resistiu a enveredar pelo caminho das suposições quando no último capítulo de seu livro disse que, o Ingá seria um lugar destinado a cultos religiosos e que, as inscrições representariam um código mneumônico de prerrogativas xamânicas, usado por misantrópicos sacerdotes pré-históricos, caraíbas, talvez em estado de consciência ampliado sob efeito de plantas de poder, numa mitologia contemplativa dos fenômenos físicos, cujos sinais seriam referência para recitação de hinos e cânticos evocativos às forças da natureza, como lembretes votivos, para iniciados na arte da magia, entoar cânticos mágicos em coro uníssono, num sistema onde não se lê o texto, mas associa-se cada inscrição com uma estrofe de uma oração melódica, talvez em recitação à genealogia, a honra das divindades, as almas dos ancestrais ou as fórmulas mágicas de sortilégios, a multiplicação das plantas, das águas, dos animais, dos homens e a fertilidade dos campos e para propagar essas culturas étnicas. Seria um texto sonoro, elaborado pela classe sacerdotal, conhecedores da tradição, gravado na rocha pelos mestres do cântico recitativo para perpetuar os hinos sagrados, assegurando que sejam transmitidos às gerações futuras.
3 As Itaquatiaras do Ingá
Com
cerca de quatro bilhões e cinquenta e cinco milhões de anos, as rochas do Sítio
Arqueológico do Ingá, apresentam propriedades das rochas de idades geológicas
muito elevadas, sendo qualificadas como ígneas, ou magmáticas, formadas pelo
esfriamento e solidificação do magma pastoso, ou ainda como metamórficas,
aquelas originadas da transformação de outras rochas, o protólito, em virtude
da elevada pressão ou da alta temperatura (ALMEIDA, 2009).
A
Pedra do Ingá encontra-se na zona do Taipu, registada por Domingos Monteiro da
Rocha em 1757, quando inventariava o território paraibano e mencionou a
localidade da pedra lavrada para os Anais de História (BRITO, 2013).
Imagem
6: Monólito
principal das Itaquatiaras do Ingá
O Sítio Arqueológico do município de Ingá, na Paraíba, a cento
e nove quilômetros da capital, João Pessoa, é também conhecido como
“Itaquatiaras do Ingá”, encontrando-se
as margens
do rio Ingá do Bacamarte que corta a cidade. Conforme documentos pesquisados
por Brito (2013, p. 12) o riacho Bacamarte, já tem esse nome desde o século
XVIII e pela tradição, o recebeu porque teria sido encontrado as suas margens
um bacamarte, tipo de arma de grosso calibre e boca alongada com até mais de
quinze quilos, próximo da atual cidade de Riachão do Bacamarte. O autor admitiu
que, o riacho Bacamarte possa ter sido perene num passado remoto, mas afirma
que, desde o século XIX já não o é, pois um documento datado de 1847 já dizia
que, o Bacamarte só tinha água nas estações chuvosas. Portanto, considera que, na
realidade o riacho Bacamarte é um dreno transitório que captura e canaliza a
água que escoa das encostas da Serra da Borborema para o rio Paraíba.
O termo “Itaquatiara” tem origem no tupi-guarani e significa "pedra
lavrada" ou “pedra pintada”. Já o termo “Ingá” que, dá nome ao município,
também vem da linguagem indígena e quer dizer: "cheio d'água".
O termo designa o ingazeiro, a árvore comum na região,
a qual possui uma polpa bastante úmida e aquosa (ALMEIDA, 2009; CATOIRA &
AZEVEDO NETO, 2018; BRITO, 1988; BRITO, 2013; SANTOS, 2005).
Na
paisagem fitogeográfica do Nordeste domina a caatinga, “mato cinzento” em tupi,
com vegetação xerófita adaptada a aridez da região, arbustiva de folhas
pequenas e espinhosas e também muitas espécies de cactáceas (MARTIN, 2013).
O sítio arqueológico do rio Ingá é formado por rochas metamórficas de gnaisse, de extrema dureza que, cobrem uma área de cerca de duzentos e cinquenta metros quadrados, tendo o seu monólito principal cerca de cinquenta metros de comprimento e alturas que variam entre três e quase quatro metros (BRITO, 2013; BRITO, 1988; IPHAN, 2014; MARTIN, 2013; SANTOS, 2005). Para Pessis et al. (2019) o monólito principal do sítio mede aproximadamente 24 metros de comprimento e 2,8 metros de altura.
Petróglifos, glifos, litóglifos, pictografias, litografias, gravuras, símbolos, sinais e signos, desenhos e figuras são entre outros, termos usados pelos vários autores para designar as inscrições rupestres (FARIA, 1987).
Aguiar
(1982, p. 04) escreveu que, ficou convencionado usar o termo “grafismo”,
segundo a proposta de Anne-Marie Pessis (1992) no lugar de desenho, figura ou
gravura como forma mais abrangente de descrição.
3.1
A arqueologia científica moderna
A
arqueologia é a ciência que estuda os vestígios materiais associados à vida
humana em sociedade. Nessa, por meio de escavações recuperam-se vestígios que
guardam informações sobre os mais variados aspectos sobre a vida no passado.
Esses restos materiais são de diferentes tipos, os líticos, artefatos feitos de
pedra, estão entre os mais importantes vestígios pré-históricos por
acompanharem a humanidade ao longo de toda a sua existência, como por se
preservar muito bem. São as ferramentas usadas nas mais variadas tarefas
cotidianas que guardam informações sobre as atividades de caça, pesca,
agricultura e técnicas usadas para construir moradias ou aldeias, como também,
em alguns casos, são pequenas esculturas de pedra de animais ou seres humanos
que, possuíam um papel simbólico ou artístico e que, podem contar sobre os
gostos e valores dos grupos que no passado o produziram. Além dos vestígios
líticos, outro material que se preserva muito bem é a cerâmica. O uso de
artefatos feitos de barro cozido pelo homem é muito mais recente do que o da
pedra, atingindo o máximo de doze a treze mil anos BP. A cerâmica pode nos
informar sobre como as pessoas armazenavam produtos, como comiam, mas, em alguns
casos a forma e a decoração do artefato podem guardar sugestões a respeito da
simbologia e dos valores sociais daqueles grupos humanos. Também as pinturas
feitas nas paredes de cavernas são evidências materiais que retratam cenas de
caça, pesca, sexo, violência, danças, cerimoniais e rituais de forma
inigualável. Muito mais raros entre os achados arqueológicos, o conjunto de
informações resultantes de artefatos usados ou confeccionados pelo homem com
ossos de animais, madeira ou outros materiais, bem como, os locais que
transformavam para habitar, são considerados a sua “cultura material”. Também
faz parte do interesse dos arqueólogos as áreas de atividade, locais onde eram
realizadas tarefas diversas como cozinhar, guardar objetos ou alimentos e elaborar
artefatos. Além da cultura material, outra importante fonte de informações são
os esqueletos humanos que, estudados por diferentes técnicas podem permitir a
determinação da idade, do sexo, estatura, enfermidades, causa da morte do
indivíduo, por meios de métodos físico-químicos determinar a antiguidade do
esqueleto, enquanto por análise genética é possível relacioná-lo a um ou outro
grupo humano conhecido e até mesmo, determinar o seu grau de parentesco com
outros esqueletos do mesmo sítio ou da região. Porém, em particular, o estudo
da pré-história na América, conta com outros recursos além dos vestígios
materiais, como o estudo dos documentos históricos que se referem aos
ameríndios desde os primeiros séculos da colonização europeia que, embora constituam
uma importante fonte de informação, são pautados pelos critérios e visão
eurocêntrica com relação aos povos ameríndios. Para datar os vestígios, usa-se
técnicas como o Carbono 14 e a termoluminescência. No método do Carbono 14, a
datação por meio do Carbono de material orgânico é feita partindo da quantidade
de Carbono14 radiativo que contém o fóssil, a madeira carbonizada ou os ossos
encontrados. O método do Carbono 14 é usado para datações de até setenta mil
anos, adotando-se para períodos mais longos a análise do Urânio e do Potássio
radioativos. A termoluminescência permite datar materiais inorgânicos como a
cerâmica, por meio da medição da quantidade de luz liberada quando o vestígio
de cerâmica é aquecido em aparelhos especiais.
(FUNARI; NOELLI, 2021).
No
século XVI, os litóglifos do rio Araçuagipe, na Paraíba, achados pelos soldados
do então capitão-mor da província da Paraíba, Feliciano Coelho de Carvalho,
foram os primeiros observados e descritos no Brasil por Ambrósio Fernandes
Brandão, em seu livro “Diálogos das Grandezas do Brasil”, de 1598 como:
"uma cruz, caveiras de defunto e desenhos de rosas e molduras"
(BRANDÃO, 2010; BRITO, 2013; FARIA, 1987, MARTIN, 2013; MORAIS, 1994; SANTOS,
2005).
Almeida
(1980, p. 61) escreveu que, Rodolfo Garcia estudou os “Diálogos das Grandezas
do Brasil” e afirmou ser essa a mais antiga referência a um sítio rupestre no
Brasil. Para a arqueóloga, depois desse registro, provavelmente foi Elias
Herckmans, poeta e aventureiro, cumprindo ordens do governo da Holanda que,
chegando à capitania da Paraíba em 1641, percorreu os sertões paraibanos e
informou haver encontrado para as bandas da Serra da Cupaoba, agora Serra da
Borborema, certas pedras lavradas pela mão humana.
Almeida
(1980) conseguiu localizar no município de Pilões na Paraíba, no engenho
Pinturas de baixo, às margens do rio Araçagi, um sítio rupestre que se aproxima
demasiadamente da descrição feita por Ambrósio Fernandes Brandão há mais de
quatrocentos anos.
Segundo
Brito (2013) o Sítio Arqueológico Engenho Pinturas é um lajedo gnássico
aflorado no leito do rio Araçagi-mirim, onde se formam grandes caldeirões, num
dos quais, muito profundo e com extensa abertura oval, estão gravados em
técnica de meia-cana, nas bordas e nas paredes circulares internas, diversos
litógrafos.
Ao
longo do século XIX, os registros rupestres foram motivo da atenção de
viajantes, naturalistas, artistas e missionários. A primeira referência
histórica a existência das gravuras da Pedra do Ingá apareceram em “Lamentação Brasílica” (1806) escrita pelo
padre missionário Francisco Telles de Menezes que, entre 1789 e 1806, obcecado
pela procura de botijas, tesouros escondidos por jesuítas e holandeses,
percorreu os sertões do Ceará, do Rio Grande do Norte, do Piauí, da Paraíba e de
Pernambuco, anotando quantas informações, reais ou fantasiosas, recebia, entre
as quais, a existência de mais de cem sítios com registros rupestres (BRITO,
2013, BRITO, 2013; MARTIN, 2013, SANTOS, 2005). Depois desse relato, a Pedra do
Ingá caiu no esquecimento e somente em meados do século XIX, surgiram outras
vagas citações (BRITO, 2013).
O padre português Aires de Casal (1817, p. 274)
escreveu em sua obra “Corografia Brasílica”, o primeiro livro publicado pela
Imprensa Régia do Brasil em dois volumes:
Na
Serra do Teixeira, que é uma porção da mencionada Borborema, há umas inscrições
com tinta vermelha, e caracteres desconhecidos dos homens do país vizinho, que
com maior fundamento os reputam por obra dos holandeses ou flamengos, como
ainda lhes chamam; parecendo natural que sejam caracteres germânicos, ou
góticos (CASAL, 1817, p. 274).
Para Brito (1988, p. 53) os habitantes do Ingá
atribuem, não apenas as gravações da pedra aos flamengos, ou seja, aos
holandeses, mas a tudo que tem origem perdida no tempo, até mesmo os templos
católicos romanos e recorda que, em 1598, bem antes da conquista de Olinda
pelos holandeses em 1630, surgiram as primeiras notícias sobre os litógrafos na
Paraíba. Para Pinto (1993, p. 15) o que há de certo quanto a origem das inscrições
do Ingá é de que não se trata de “obra do holandês”.
O senhor de engenho, filho de ingleses, Henry Koster, também
conhecido como Henrique da Costa, escreveu em seu livro Travels in Brazil (1817, p. 97):
Tendo estado com um amigo na província de Paraíba, havia
feito o desenho de uma pedra sobre a qual foram esculpidos um grande número de
desconhecidos personagens e várias figuras, uma das quais aparentava de ter a
intenção de representar uma mulher. A pedra ou rocha é grande e permanece no meio
do leito de um rio, que é bastante seco no verão. Quando os habitantes da
vizinhança o viram trabalhando ao tomar aquele desenho, disseram que havia
vários outros em diferentes partes da vizinhança, e deram-lhe os nomes dos
lugares (KOSTER, 1817, p. 97).
Brito (2013, p. 58) sugeriu que o depoimento de Henry Koster,
em Travels in Brazil (1817),
favorecido pelos dados geográficos e morfológicos, oferece evidências que
trata-se das Itaquatiaras do Ingá. Para o historiador o glifo que, de acordo
com o relato tenta representar uma mulher, pode referir-se a uma grande
representação ambígua centrada no painel vertical que, lembra uma forma humana
de saia longa, ao modo das “damas da aristocracia” (ver imagem 29).
Após ter-se mudado definitivamente para o Brasil em
1833, o notável naturalista dinamarquês, considerado o pai
da paleontologia e arqueologia no Brasil, Peter Wilhelm Lund, explorou durante dez anos mais de duzentas
grutas no Vale do Rio das Velhas em Minas Gerais, descrevendo
minuciosamente a megafauna extinta de mamíferos da região e as mudanças ambientais que
aconteceram desde o Pleistoceno (SANTOS, 2005).
Para Martin, (2013, p. 15), a descoberta por Lund, em 1840,
de um
crânio com idade estimada em onze mil anos, batizado como o “homem de Lagoa
Santa”, na gruta do Sumidouro, na cidade de
Lagoa Santa, Minas Gerais, foi casual. A
datação do crânio porém, só pode ser confirmada em 2002 com base em análises da
ossada pelo método do Carbono
14. Atualmente, pesquisadores supõem que aqueles humanos podem ter
convivido com os animais da megafauna, mas durante muito tempo defenderam que,
a megafauna já estava extinta quando surgiram as grandes populações humanas.
Foi um achado espetacular, pois, até então, em nenhuma parte do mundo se havia
encontrado animais extintos contemporâneos ao homem (FUNARI; NOELLI, 2021).
Brito (2011, p. 33) escreveu que, a pedido de dom Pedro II,
Louis Jacques Brunet elaborou um manual analítico citando principalmente, as
pinturas e gravuras rupestres existentes, na Paraíba e no Rio Grande do Norte.
Em 1887 John Carper Branner produziu uma monografia com seus estudos sobre as
inscrições rupestres no Nordeste, seguido por Varnhagen em 1890 e por fim em
1892, Irineu Joffily descreveu inscrições rupestres na Paraíba. Para Brito
(2011) o gosto do imperador dom Pedro II pela arqueologia, garantiu as
primeiras instituições oficiais da arqueologia brasileira, a exemplo da criação
e o enriquecimento com material europeu e africano, do acervo do Museu Nacional
no Rio de Janeiro.
No
século XX, em 1922, como parte das comemorações do centenário da Independência,
aconteceu o XX Congresso Internacional dos Americanistas, o primeiro celebrado
no Brasil, no Rio de Janeiro e que, teve como patrono, o então presidente da
República, Epitácio Pessoa. Os Anais foram organizados pelo também paraibano
Leon Clerot, e pelo carioca Paulo José Pires Brandão (MARTIN, 2013).
Clerot
(1969 apud MARTIN, 2013, p. 285) relatou que, até 1953 o conjunto de blocos
gravados nas Itaquatiaras do Ingá era bem maior, mas grande parte do pedregal
foi destruída para a fabricação de lajes de pavimentação por trabalhadores
enviados pelo proprietário das terras e somente com a intervenção do serviço do
Patrimônio Histórico foi suspensa a demolição. Faria (1987, p. 25) escreveu que,
foi a intervenção enérgica do engenheiro Leon Clerot que cessou a dinamitação.
Clóvis Lima (1953 apud MARTIN, 2013, p. 286) que visitou o Ingá em 1953,
confirmou o fato ao afirmar que na época, as inscrições ocupavam uma área de
aproximadamente mil e duzentos metros quadrados.
O
patrimônio arqueológico do Brasil está sob proteção legal desde 1937 com
o Decreto Lei nº 25 que, organiza a proteção do
patrimônio histórico e artístico nacional (BRASIL, 1937; SANTOS, 2005). No
entanto, em 1961, a Lei Federal nº 3.924 de 26 de julho de 1961, dispôs
sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos, estabelecendo proteção
específica (BRASIL, 1961; SANTOS, 2005). Em 1988 a Constituição
Brasileira também reconheceu os bens arqueológicos como
patrimônios da União, incluindo-os no conjunto do Patrimônio Cultural
Brasileiro. Desta forma, a destruição, mutilação e inutilização
física do patrimônio cultural são infrações puníveis por lei (IPHAN, 2014).
Eleito
monumento nacional, o Sítio Arqueológico do Ingá, ocupa desde 30 de novembro de
1944, um hectare de área tombada pelo Serviço do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (SPHAN), por indicação do Museu Nacional e iniciativa do
professor José Anthero Pereira Júnior. A área em que está inserido o conjunto
do Ingá, hoje pertencente ao Patrimônio Histórico Nacional, foi na época, doada
ao Governo Federal pela então proprietária das terras, dona Francisca de Moraes
Farias (BRITO, 2013).
O sítio das Itaquatiaras do rio Ingá está protegido como patrimônio cultural pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN - desde maio de 1944, com inscrições no Livro de Tombo das Belas Artes e no Livro do Tombo Histórico, sendo o primeiro monumento de arte rupestre protegido no Brasil e o único reconhecido também pelo seu conteúdo artístico, além da importância histórica (IPHAN, 2014).
De
acordo com Brito (2013) o Sítio Arqueológico do Ingá, foi o segundo sítio
pré-histórico tombado no Brasil, sendo o primeiro, o Sítio Pré-histórico do
Sambaqui do Pindaí (1939) em São Luís, no Maranhão, por iniciativa do
pesquisador Raimundo Lopes.
Os
primeiros trabalhos sistemáticos de arqueologia no Nordeste brasileiro foram
divulgados no final da década de 1970 pelo empenho profissional de Niède Guidon
que, à frente de uma missão franco-brasileira, realizou estudos no Sudeste do
Piauí (BRITO, 2013).
Guidon
(1985) na década de 1970, conduziu um projeto global, interdisciplinar, no
Sudeste do estado do Piauí (PI), no Nordeste do Brasil, que serviu de
laboratório de experimentação para novos métodos e técnicas de pesquisa. A
pesquisadora aproveitou-se da riqueza arqueológica, proporcionada pelo
isolamento da região de São Raimundo Nonato – PI, traduzida pela excelente
conservação dos seus sítios arqueológicos, com um grande número de jazidas,
onde foram encontrados abundantes vestígios da cultura material da indústria
lítica, cerâmica, fogueiras e restos alimentares, entre outros, enquanto a
cultura espiritual, está representada pelas sepulturas e pela arte rupestre,
permitindo análises comparativas que, podem servir de base, para estudos entre
as diferentes manifestações da arte pré-histórica da América. Aquela região,
foi uma zona de convergência, onde várias culturas ocorreram e se sucederam no
decorrer do tempo, com uma presença humana muito antiga e ininterrupta,
expressando diferentes manifestações rupestres, referentes não apenas a técnica
de realização ou a temática, mas também a variabilidade dos sítios escolhidos
para abrigar as pinturas ou os glifos. Assim, a arte pré-histórica foi o fio condutor
da arqueóloga para estabelecer a sequência cultural da região de São Raimundo
Nonato, no Piauí.
Em 8 de julho de 1975, a Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) emitiu um selo da série “Arqueologia Brasileira”, reproduzindo petróglifos do painel vertical da rocha lavrada do Ingá (FARIA, 1987). A série completa de selos da série “Arqueologia Brasileira” é composta de três selos e inclui ainda, um selo que homenageia um peixe fóssil encontrado no Ceará e outro que galardoa a belíssima cerâmica marajoara do Pará.
Imagem 7: selos da série “Arqueologia Brasileira”.
Disponível em: < https://filateliahalibunani.com/produto/c-895-selo-arqueologia-brasileira-inscricao-rupestre-fossil-1975-serie-completa/>.
Acredita-se que os povos originários brasileiros não dominavam a metalurgia. Porém, os colonizadores portugueses registraram entre os tupinambás, bons machados de cobre. De acordo com Lévi-Strauss (1973 apud BRITO, 2013) foram achados objetos em cobre de origem andina, em muitas partes do Brasil que, podem representar contatos comerciais entre os indígenas brasileiros e as grandes civilizações dos Andes e da América Central. No entanto, o Cobre foi o único metal registrado entre os indígenas brasileiros e não apresenta a necessária dureza para burilar o gnaisse. A respeito disso, no início da década de 1950, o professor Clóvis dos Santos Lima supôs que, pelo fato da Pedra do Ingá está localizada em uma zona onde é abundante o minério de Ferro, naturalmente o Ferro teria sido usado para gravar as inscrições na rocha, sendo mais tarde seguido em sua hipótese pelo jornalista Gilvan de Brito.
Os anos 1990 começaram sob a influência
da VII Reunião Científica da Sociedade de Arqueologia Brasileira, ocorrida em
1994 em João Pessoa, capital da Paraíba (BRITO, 2013).
Em 1994 José de Azevedo Dantas,
sertanejo, autodidata, natural de Carnaúba dos Dantas, no Seridó do Rio Grande
do Norte que, percorreu os sertões da Paraíba, de Pernambuco, do Ceará e do Rio
Grande do Norte, registrando as pinturas rupestres entre os anos de 1924 e
1926, teve o seu livro “Indícios de uma Civilização Antiquíssima” publicado
postumamente, a partir do empenho de Gabriela Martin (2013) que, descobriu o
caderno manuscrito nos arquivos do Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba
(BRITO, 2013; DANTAS, 1994; SANTOS, 2005).
José de Azevedo Dantas nasceu nas brenhas do Xique-Xique, em Carnaúba dos Dantas, aprendeu a ler e escrever nas areias do rio Carnaúba ensinado pelos irmãos mais velhos, e nunca frequentou a escola. Extremamente pobre, mas dotado com grande sensibilidade e inteligência, copiou cuidadosamente as pinturas e gravuras rupestres da região do Seridó, na Paraíba e no Rio Grande do Norte, e deixou-as em um manuscrito de mais de duzentas páginas, onde registrou seus comentários sempre isentos de fantasias, apesar de certa ingenuidade, compreensível em um autodidata que escrevia entre 1924 e 1928, datas da elaboração do manuscrito. Vitimado pela tuberculose, morreu com apenas trinta e oito anos e seu irmão Mamede, doou o manuscrito ao Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba. Esse acervo rupestre de extraordinário valor arqueológico, foi finalmente publicado em 1994, no volume XI da Coleção Biblioteca Paraibana (MARTIN; SANTOS Jr., 2017).
3.2 As
modalidades técnicas de gravação dos petróglifos
Brito
(2013, p. 29) contou que, o primeiro a sugerir a moldagem do painel principal
do monólito principal do Ingá, porém sem sucesso, em 1958, foi o engenheiro
José Anthero Pereira Júnior. Em 1961, com o apoio do Governo do Estado e do
então prefeito do Ingá, Djalma de Carvalho, uma equipe do Instituto de
Arqueologia Brasileira – IAB, fez a moldagem das inscrições em gesso, mas não
se sabe onde se encontra o molde ou a qual propósito serviu. Nos anos 1970, o
museólogo Balduíno Lélis que, já havia participado da equipe do IAB na
elaboração do primeiro molde em gesso, tirou um novo molde das inscrições, dessa
vez em material têxtil, a estopa, produzindo uma réplica artística que, ao
longo de muitos anos, decorou o saguão do extinto Banco do Estado da Paraíba –
PARAIBAN - no centro da capital do estado, João Pessoa.
Porém,
somente em 1996, a Universidade de Lyon
na França, em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco e com o apoio
do Departamento de Física UFPB, num trabalho coordenado pelo arqueólogo francês
Abel Priner e pela historiadora Mali Trevas, foi retirado um molde de silicone
das inscrições da Pedra do Ingá, possibilitando através desta modelagem a
produção de réplicas feitas com fibras de vidro, as quais foram distribuídas
com instituições (BRITO, 2013; SANTOS, 2005).
De
acordo com Brito (2013, p. 30) o trabalho de moldagem das inscrições da Pedra
do Ingá, teria impedido o crescimento de líquens na superfície da rocha durante
anos, o que induziu os alarmistas a dizer que, um produto químico aplicado
sobre a rocha durante o trabalho de moldagem, seria o responsável pela
aceleração do desgaste da rocha.
Contudo, o autor afirmou que, de acordo com relatos ouvidos de
envolvidos naquele projeto, o único produto que teve contato com a rocha foi
uma demão de vaselina, sobre a qual foram aplicadas a pincel, as camadas de
silicone que produziram o molde negativo, a partir do qual foram feitas as
réplicas com um composto de fibra de vidro.
Para Brito (2013) a indústria da pedra é muito antiga no Brasil e só foi
abandonada pelos indígenas, depois que passaram a obter ferramentas de metal
com os europeus e cita ainda que, no século XVII, o cronista Gabriel Soares
relatou sobre os Amoipirá que viviam nas margens do rio São Francisco:
Na terra onde este gênio vive estão mui faltos de ferramentas, por não
terem comércio com os portugueses; e, apertados de necessidade, cortam as
árvores com umas ferramentas de pedra, que para isso fazem; com o que também se
aproveitava, antigamente, todo o outro gentio antes que comunicasse com gente
branca (BRITO, 2013).
Há os que defendam que as inscrições da Pedra do Ingá foram produzidas pela sequência de pequenos furos muito juntos, enquanto outros sugeriram que, as inscrições originalmente foram pintadas com uma tinta vermelha a base de óxido de Ferro, a qual teria sido removida pela água ao longo do tempo. Por outro lado, Leon Clerot conjecturou que, as inscrições foram gravadas pelos indígenas usando pedaços de madeira que “eram constantemente molhados e imediatamente mergulhados em areia fina e à guiza de lixa, esfregados firmemente, até obterem-se os sulcos que formam figuras” (BRITO, 1988; BRITO, 2013). Muitos estudiosos, no entanto, preferem admitir o uso de pedra contra pedra, usando-se seixos e água, friccionados em movimentos lineares ou rotatórios sobre a rocha de gnaisse, para a feitura dos sinais nas Itaquatiaras do Ingá (BRITO, 2013; IPHAN, 2014; SANTOS, 2005).
Brito (2013, p. 35) descreveu que, na prática da arqueologia experimental, o pesquisador Dennis Mota Oliveira, reproduziu muitas inscrições das Itaquatiaras do Ingá, em blocos de gnaisse recolhidos nos riachos Surrão e Bacamarte, usando para isso, um seixo para friccionar e cavar os blocos de gnaisse e uma mistura de areia e água para polir os sulcos com as inscrições, sem desperdiçar com esse trabalho, muito tempo ou esforço descomunal. O autor acredita que, a resposta sobre como foram desenhados os sinais das Itaquatiaras do Ingá pode ser mais simples do que se imagina e a partir de suas experiências pessoais com a técnica de arqueologia experimental, acredita que a hipótese de povos pré-históricos terem riscado a Pedra do Ingá com um instrumento lítico, é mais simples, convincente e prática do que todas as outras.
Imagem 8: Museu de História Natural do Ingá.
Foto por Antonio Leite Júnior em
Ingá, Paraíba, Brasil.
Brito
(2011) estudou os sítios com gravuras em suportes rochosos a céu aberto, no
leito dos riachos ou nas suas margens nas bacias dos rios Sabugi, Espinharas,
Quipauá/Barra Nova, no Seridó Ocidental da Paraíba e do Rio Grande do Norte e
observou que, em todos os sítios a raspagem foi a técnica predominante, mas as
técnicas de picotagem e polimento ou a combinação de mais de uma dessas, também
foi observada, com denso preenchimento dos painéis.
Pessis (2002) coletou
na Toca dos Oitenta, em São Raimundo Nonato, Piauí, um abrigo sob rocha que a
erosão fluvial cavou, onde haviam dois grandes blocos de arenito com gravuras
rupestres, um seixo de quartzito com o entorno da borda desgastado, por ter
sido utilizado como instrumento abrasivo para gravação ou, talvez como escolha
técnica, poderia ter sido intencionalmente desgastado para obter um instrumento
abrasivo antes da gravação. Outra região no seixo apresenta traços de
lascamento, em decorrência do seu uso, também, como percussor.
Em
sua análise de gravuras rupestres no Seridó Ocidental do Rio Grande do Norte,
Brito (2011) observou quatro técnicas de execução dos registros: a raspagem
simples, a raspagem simples com posterior polimento, a picotagem simples e a
picotagem simples com posterior polimento. A técnica de raspagem simples
consiste em aplicar atrito entre dois corpos em sentido unidirecional ou
bidirecional. Na técnica de raspagem simples com posterior polimento, são
acrescidos a raspagem simples, movimentos extras multidirecionais no interior
dos sulcos, realizados com o uso de materiais abrasivos como areia e água. Na
técnica de picotagem simples de acordo com Pessis (2002 apud BRITO, 2013) “o
traço é obtido por uma série de pequenos impactos contínuos feitos com um
instrumento com ponta”. Por fim, a técnica de picotagem simples com posterior
polimento, consiste na picotagem simples acrescida de movimentos extras em
várias direções no interior dos sulcos usando areia e água, resultando em
gravuras mais profundas.
Já
Brito (2013) considerou que, na Paraíba o homem primitivo, de forma geral, usou
três técnicas para gravar as representações rupestres nas rochas, as quais
designou como: meia-cana, picotamento e monocrômica. A técnica de meia-cana,
muito bem representada nos petróglifos dos painéis das Itaquatiaras do Ingá,
consiste em sulcos profundos de até oito milímetros, com largura de até cinco
milímetros, interior côncavo e boleado por polimento, gravados na superfície
lisa de rochas nas margens e leitos de rios e riachos, principalmente onde
formam corredeiras, caldeirões ou poços. Já a técnica de picotamento consiste
em ferir toscamente a pedra através de golpes de buril, formando desenhos e
símbolos que, predominam em sítios nas regiões semiáridas dos Cariris Velhos,
parte do Agreste e no vale de Santa Rosa. Por sua vez, a técnica monocrômica
que, encontra-se aplicada no piso horizontal de extensos lajedos, consiste em
produzir gravuras, muito superficiais e distribuídas na rocha quase sem deixar
espaços vazios, sendo unânim nos vales do Sabugi, do rio do Peixe e do rio
Piranhas, no sertão paraibano.
4. Os mitos e as ciências das Itaquatiaras do Ingá
A
arqueóloga espanhola Gabriela Martin (1997 apud ALMEIDA, 2009, p. 15)
considerou que, as Itaquatiaras são de “todas as manifestações rupestres
pré-históricas do Brasil, aquelas que mais se tem prestado a interpretações
fantásticas”.
Brito
(1988, p. 84) transcreveu longos trechos dos “Capítulos de História da
Paraíba”, publicado pelo museólogo Balduíno Lélis que, estudou durante décadas
as Itaquatiaras do Ingá, dos quais destaca-se essa descrição:
[...]
De mais de uma centena de caracteres, gravados em meia cana, de simetria quase
perfeita, com 5 cm de largura e 3 cm de profundidade, com leves e quase
imperceptíveis variações, todo o grande painel lavrado, de quase 12 metros de
comprimento, apresenta ainda, uma série de outros caracteres insculpidos na
parte superior do bloco com evidente aparência de uma Tábua Lunar, além das
figuras estelares que aparecem na rocha da sustentação do monólito principal,
onde se encontram reproduzidas figuras antropomorfas (figuras humanas),
zoomorfas (répteis, aves, etc.), fitomorfas (plantas), e símbolos
característicos da representação solar, lunar e cósmica, sendo essa última estereotipada
por dois círculos concêntricos (espirais), além de símbolos fálicos (masculinos
e femininos) em profusão, tendo ainda, uma linha de capsulares encimando toda a
gravação lapidar, como se pretendessem, os feitores das inscrições, separá-las
do restante do bloco monolítico e das outras inscrições superiores e
adjacentes.
Brito (1988) classificou o monólito principal do Sítio das Itaquatiaras do rio Ingá em três partes: a laje horizontal superior, o painel vertical principal e a laje lateral, também chamada de “tábua astronômica”, nos quais encontram-se petróglifos antropomórficos, fitomórficos, zoomórficos, fálicos, astronômicos, edículas, geométricos, rituais e abstratos.
De
acordo com Brito (1988, p. 22) a laje superior mostra vestígios de vários
registros, alguns desses já bastante desgastados. Uma das representações mais
expressivas nessa laje, constitui-se de três círculos concêntricos, tendo o
maior sessenta centímetros de diâmetro, atravessados na direção Norte-Sul por
uma reta iniciada num ponto capsular que, ultrapassa os limites da “roseta”[6].
[6] As terminologias usadas entre aspas ao longo desse capítulo são adotadas pelos autores da literatura consultada para designar certos glifos das Itaquatiaras do Ingá.
e
descreveram petróglifos que, consideraram como símbolos astronômicos na laje
superior, entre esses “a roseta”:
Uma
das figuras se constitui de capsulares que partindo de um grupo de 6, em forma
de roseta, seguem, em linha reta, outras 15 capsulares, perfeitamente escavadas
e polidas, até formarem uma figura curiosa bifurcando-se em outra [...] série
de capsulares [...]. A figuração seguinte apresenta três círculos concêntricos,
atravessados no sentido Norte-Sul por uma reta que termina numa capsular
(PINTO, 1993, p. 21; BRITO, 1988, p.16).
Ainda
sobre o petróglifo da “roseta”, Faria (1987, p. 68) escreveu que:
No
topo plano do monólito, que ostenta na face leste inscrições (painel vertical),
a inscultura principal é composta por três círculos concêntricos seccionados
simetricamente por um sulco reto. Este sulco termina na extremidade que aponta
para o Noroeste com uma depressão circular, sua extremidade Sudeste se continua
com uma série de depressões esféricas que se dirigem obliquamente ao painel
vertical [...] Há outras inscrições em torno destas, mas a erosão, bastante
intensa e a textura grosseira e pouco compactada da rocha, neste local, as
tornaram pouco visível (FARIA, 1987, p. 68).
Imagem 9: petróglifo da “roseta” na laje superior do monólito principal do Ingá
Fonte BRITO, 1988.
De acordo com Pinto[7] (1993, p. 23), na mensagem da “roseta” os três círculos são os três mundos ou os três princípios unitários: a alma, o espírito e o corpo, no que se refere
[7]
Zilma
Ferreira Pinto,
licenciada em História pela UFPB, integrante dos quadros da Academia Paraibana
de Poesia, cadeira nº 15; da União Brasileira dos Trovadores, seção Paraíba; da
Associação Paraibana de Imprensa e do Instituo Paraibano de Genealogia e Heráldica
(IPGH) teve sua obra foi reconhecida,
obtendo prêmios na categoria poesia e conto infanto-juvenil em 1977, na literatura de cordel em 1998 e com
o livro Isabel, nossa princesa, quando recebeu o Prêmio Nacional de Poesia em 1999 da
Academia Friburguense de Letras. Transitando entre a literatura, a história
e a genealogia, publicou também, entre outros, Nas pegadas de São Tomé,
um estudo dos símbolos da pedra do Ingá: características judaicas, cristãs e
islâmicas das inscrições (Senado Federal, 1994), Os Ferreira
de Tacima: paraibanos da fronteira (RIGRAFIC, 2000) e A saga
dos cristãos-novos na Paraíba (Idéia, 2006).
ao
cosmos e ao homem. A linha transversal é um sinal de ruptura da unidade Homem –
Deus, significando o julgamento divino. Para a autora o petróglifo da “roseta”
está relacionado com o ciclo de morte e do renascimento da vida, presente por
todo o corpo das inscrições do Ingá.
As
representações cosmogônicas mostram sistemas hipotéticos de formação do
universo ou qualquer gravura relacionada com os astros. Sobre isso, Brito
(1988) examinou as linhas sem orientação definida tendo identificado as
constelações de Peixe Austral e Grus que, marcam o início da estação seca.
Diante das evidências demonstradas nos mencionados registros, o escritor
afirmou ser verdade que os antigos habitantes do Ingá detinham conhecimentos
astronômicos suficientes para gravarem na dura rocha, constelações conhecidas
noutros continentes que marcavam as estações do ano.
Imagem
10: glifo
com a suposta forma das constelações de Peixe austral e Grus
Fonte: BRITO, 1988.
As
inscrições na laje superior incluem ainda uma gravação na rocha em forma de
bastão com um metro de comprimento, dez centímetros de largura na porção
anterior e dezoito centímetros nas porções finais, sendo cortada por oito
traços transversais. O glifo começa na parte na laje horizontal superior e se
estende na curvatura da rocha em direção ao painel vertical principal (BRITO,
1988; PINTO, 1993).
Pinto (1993, p. 68 - 70) considerou que, o petróglifo do “cometa”, mais que os outros, conecta o que está inscrito abaixo e o que está gravado em cima. Além disso, remete a natureza ígnea, o que justificaria a sua designação como “bola de fogo” ou “cometa”.
Imagem 11: o petróglifo do “cometa” na laje superior do monólito principal do Ingá
Foto por Antonio Leite Júnior em Ingá, Paraíba, Brasil.
Pinto
(1993, p. 71), aventou a hipótese das Itaquatiaras do Ingá terem sido usadas
como um monumento in memoriam. Cogitou
ainda a possibilidade de que, o monumento seja apenas uma das usuais sepulturas
simbólicas concebidas para efeito de práticas iniciáticas. Propôs ainda
relações esotéricas sugerindo que, os símbolos das Itaquatiaras do Ingá,
apresentam predominantemente características da cabala judaica (PINTO, 1993, p.
63).
De
acordo com Martin (2013, p. 299) os conhecimentos dos rituais funerários no
interior do Nordeste provêm principalmente de quatro sítios cemitérios,
escavados total ou parcialmente por arqueólogos. Na ordem cronológica do achado
e da respectiva escavação, são eles: a Gruta do Padre, em Petrolândia,
Pernambuco e a Furna do Estrago, no Brejo da Madre de Deus, Pernambuco, o
abrigo Pedra do Alexandre em Carnaúba dos Dantas, Rio Grande do
Norte e o Sítio do Justino, em Canindé do São Francisco, Sergipe. Essas quatro
necrópoles foram utilizadas durante longos períodos de tempo nos quais houve
mudanças no ritual funerário.
Brito
(1988) cita o arqueólogo Alfredo Coutinho: “digno de profundo estudo é a
figuração existente no centro do painel insculpido, na sua parte superior, de
um sol radiante em semicírculo, do qual partem vinte e um raios voltados para a
face inferior do paredão” que, já não se veem mais com clareza.
Brito
(1988) descreveu que, há à direita do “cometa”, outro sol radiante em
semicírculo com apenas sete raios voltados para cima, ao contrário do outro,
cujos vinte e um raios se voltam para o painel vertical.
Imagem 12: sol com 21 raios na laje superior do monólito principal do Ingá.
Foto por
Antonio Leite Júnior em Ingá, Paraíba, Brasil.
Quem
primeiro anunciou que o monumento do Ingá continha dados astronômicos foi o
astrônomo amador do Centro Brasileiro de Arqueologia José Benício de Medeiros
quando em 1962 com base na aparente constelação existente na laje lateral do
monumento do Ingá, apresentou nos resultados dos seus estudos, à época
aproximada de 4.134 anos atrás, como a data em que foram gravados os
petróglifos, entretanto, o astrônomo amador nunca esteve na Paraíba, sendo suas
deduções baseadas em fotografias e nos relatórios de observação do ano anterior
de um estudo feito pelos dois pesquisadores do Centro Brasileiro de Arqueologia
(BRITO, 2013).
A
laje lateral ou inferior do sítio de
arte rupestre que, está à frente e para a esquerda do monólito principal, serve
de piso e durante as estações chuvosas, se enche com água, formando um remanso
das águas do rio, que corre por trás do monólito principal das Itaquatiaras do
Ingá. Esse é um dos motivos para encontrar-se em avançado processo de desgaste
(PINTO, 1993; BRITO, 1988).
Na
laje lateral ou inferior os glifos e pontos capsulares são parecidos com
barcos, serpentes, estrelas, constelações e grafismos abstratos. De acordo com
Brito (1988, p.16), o professor Alfredo Coutinho de Medeiros Falcão encontrou
inscrições que reproduzem constelações, afirmando que: “levando em conta a
posição relativa das estrelas ali figuradas, bem como as representações de
ordem de grandeza, alguns estudiosos julgam que ali está representada a
constelação de Órion”.
Complementando suas
observações sobre a “tábua astronômica” o professor Alfredo Coutinho de
Medeiros Falcão disse que:
Na
cabeça, como que dando acesso ao campo insculpido, há uma linha com vinte e
sete capsulares. Logo abaixo notam-se gravuras de figuras com aspecto de
animais e cometas, seguindo-se as estrelas e pontos. À direita e afastado em
cerca de dois metros da linha de capsulares há um curioso quadro dividido em
oito partes, figurando em cada dessas partes uma capsular. Prosseguindo, logo
após o ponto onde se adensam os pontos e as estrelas, à direita e quase nos
limites do paredão onde existe o painel das gravações, deparamos com outros
dois símbolos, igualmente significativos: trata-se de figurações de uma
serpente, tendo à sua direita e a frente, um círculo com uma capsular no centro
(BRITO, 1988, p.16).
Imagem 13: figura da
“tábua astronômica” na laje lateral das Itaquatiaras do Ingá
Foto por Antonio Leite Júnior em Ingá, Paraíba, Brasil.
Brito
(2013, p. 46) analisando a distribuição do painel inferior do Ingá concluiu que
em nada lembra a constelação de Órion e que, pelas supostas categorias de
brilho ali presentes está inclinado a enxergar naquele glifo algo parecido com
a Plêiades, aglomerado presente na constelação de Touro.
Pinto
(1993, p. 9) achou que esse remanso de águas seria o local escolhido para
cerimônias de purificação, pertinentes tanto a rituais aos mortos como aos
rituais iniciáticos.
A
hipótese de que o painel inferior ou lateral do monólito principal do Ingá
representava a constelação de Órion fascinou e induziu muitos pesquisadores, a
exemplo de Francisco Faria, Raul Córdula, Gabriele Baraldi, Luiz Galdino,
Gilvan de Brito, entre outros, sendo até hoje tida como quase irrevogável,
embora, não seja cientificamente comprovada (BRITO, 2013, p. 45).
Brito (2013, p. 47)
comentou que, o sistema astronômico das diferentes
etnias indígenas brasileiras eram bastante semelhantes entre si, porém muito
diferente da astronomia europeia e cita a obra “Diálogos
das Grandezas do Brasil” (1598), onde o autor, Ambrósio Fernandes Brandão,
menciona que os indígenas conheciam quase todas as estrelas do céu que a
cultura ocidental conhecia, mas lhes aplicavam outros nomes diferentes.
Metraux (1950) afirmou
que, o conhecimento astronômico do indígena brasileiro já era notável aos
colonizadores europeus, pois o missionário capuchinho Claude D’ Abbeville
(1975) que, em 1612, participou da missão que acompanhou a expedição de Daniel
de La Touche, o senhor de La Ravardiére, ao Maranhão e conviveu durante quatro
meses com os indígenas da região, descrevendo em seu livro “História da missão dos padres capuchinhos na
ilha de Maranhão e terras circunvizinhas” de 1614, a observação do céu pelos
tupinambás do Maranhão e registrando o nome de dezenas de
estrelas e constelações conhecidas dos indígenas, escreveu: “Poucos entre eles desconhecem a maioria dos
astros e estrelas de seu hemisfério; chamam-nos todos por seus nomes próprios,
inventados por seus antepassados [...]” (LIMA; MOREIRA, 2005, p. 5).
Lima; Moreira (2005)
analisaram o livro no artigo “Tradições astronômicas tupinambás na visão de
Claude D’Abbeville”, considerando-o um dos mais importantes documentos
históricos brasileiros sobre conhecimentos astronômicos indígenas.
Brito (2013, p. 47)
também referiu-se
ao físico e astrônomo Germano Bruno Afonso, especialista em Arqueoastronomia da
Universidade do Paraná que, revelou terem os indígenas brasileiros suas
próprias constelações como a da Anta, do Veado, da Ema, da Cobra, entre muitas
outras, portanto, os indígenas brasileiros jamais poderiam compreender
constelações como a de Touro, Carneiro, Leão e tantas outras de animais que não
existiam nas Américas.
A constelação de
Plêiades possivelmente foi objeto de crenças entre os tupinambás, pois estes
acreditavam que as Plêiades fazem crescer a mandioca, com a qual, fabricavam a
sua farinha (BRITO, 2013; METRAUX, 1950).
Brito (2013) afirmou
que, os indígenas tupinambás conheciam bem o aglomerado estelar das Plêiades e
o denominavam de Eixu que, em tupi,
quer dizer “ninho de abelhas” e prossegue dizendo que, quando essas estrelas
apareciam, na primeira quinzena de junho, afirmavam que as chuvas iam chegar e
que, como esse aglomerado de estrelas aparecia alguns dias antes das chuvas e
desaparecia no final da estação chuvosa, tornando a aparecer em igual época no
ano seguinte, era possível reconhecer o intervalo de tempo decorrido de um ano
a outro.
Pinto
(1993, p. 10) descreveu a pedra incrustada na laje inferior das Itaquatiaras do
Ingá, assim:
medindo0,97m
de comprimento tendo de largura 0,46m numa extremidade e 0,28m na outra.
Aparece assim como uma pequena nesga na superfície do lajedo. Compara-se mesmo
a um remendo bem costurado num lençol, tal a perfeição do rejuntamento [...]
Mas a curiosidade da pedra incrustada ainda se encontra no fato de ser a mesma
de um tipo diferente de rocha do lajedo, daí que logo se distingue no meio
desta. E porque a todos dá a mesma impressão de ter sido colocada com o
propósito de encobrir uma abertura, criou-se até uma lenda de que ali estivesse
a passagem para um subterrâneo. Já se pensou em retirá-la para as devidas
explorações, o que não foi permitido. A pedra incrustada é um dos grandes
enigmas da Pedra do Ingá (PINTO, 1993, p. 10).
Imagem 14: a pedra
incrustada.
A
citação de Pinto (1993) sobre uma passagem na pedra, coincide com a lenda
registrada por Brito (1988) publicada na Revista Brasileira de Arqueologia, no
número 1, contada pelo senhor Rômulo Rangel, irmão do ex-proprietário das
terras do Sítio Arqueológico das Itaquatiaras do Ingá, antes do tombamento pelo
Patrimônio Histórico Nacional. O relato feito em 1961 pelo senhor Rômulo Rangel
diz que:
Guardo
na memória uma das lendas que me foi transmitida na minha infância. Diz ela que
aquela pedra tem uma abertura, ou melhor, uma passagem, que dá acesso ao seu
interior. Então, dizia-se que, certa vez, o primitivo proprietário das terras
encontrou alguns indivíduos com a pedra aberta. Pessoas que naturalmente
possuíam o segredo; e os surpreendeu no momento exato em que eles estavam com a
pedra aberta. Essas pessoas teriam encontrado uma imagem e muitas moedas de
ouro no seu interior. Surpreendidos, os indivíduos que haviam violado a pedra
fizeram uma proposta ao proprietário: repartir aquele tesouro e as moedas para
que lhes fosse permitido a posse da imagem. Todavia, o proprietário não
concordou com a proposta. Em face disso, as pessoas que encontraram o segredo
fecharam novamente a pedra, encerrando o tesouro. O proprietário teria negado
por considerar que a imagem exercia grande força de atração sobre as moedas
(BRITO, 1988, p. 40).
O professor Alfredo Coutinho de Medeiros
Falcão viu assim os petróglifos do painel vertical no monólito principal das
Itaquatiaras do Ingá:
Todo
o campo insculpido está limitado, em sua parte superior, por uma linha de 114
capsulares, perfeitamente escavados na dura rocha e polidas. [No centro do
painel vertical ele viu uma curiosa profusão de símbolos,] insculpidos em
modalidades, com notável polimento, representando estilizações zoomorfas,
antropomorfas, fitomorfas, cosmogônicas, fálicos (masculino e feminino),
edículas com certa presença repetitiva, o que permite inferir tratar-se de um
esforço no sentido da comunicação racional de fatos de real importância, por
parte daqueles que elaboraram as gravações. No primeiro grupo, assinalam-se
pássaros e répteis; no segundo, algumas estilizações de frutas, como seja o
abacaxi, abundante na região, e de espigas de milho, também disseminada na
região, bem como figurações de planta; no terceiro grupo, são notáveis as
figurações de seres humanos, apresentados numa certa sequência de ordenação.
Nessas figuras humanas há uma que desperta, quando detidamente observada, um
curioso simbolismo. A nosso ver, aí estão entalhadas duas figuras humanas,
entrelaçadas, dando uma ideia de estarem abraçadas. Pode-se observar uma das
figuras, a da direita, se apresenta com o corpo esguio, isto é, corrido (seria
figuração masculina?) enquanto a da esquerda mostra a região ventral um tanto
desenvolvida (seria a feminina?). Sob a figuração destaca-se uma grande
capsular e, um pouco mais abaixo, duas outras pequenas capsulares ligadas
(BRITO, 1988, p. 17).
O painel vertical do monólito principal
do Ingá é o mais rico em símbolos rupestres, distribuídos numa área de dezoito
metros de comprimento por dois metros e meio de altura (BRITO, 1988).
Brito (1993, p. 15) escreveu que, o mais famoso e magnificente painel do conjunto de Itaquatiaras do Ingá é o painel vertical, um suntuoso paredão rochoso voltado para o noroeste elevado em meio ao lajedo, ocupando quinze metros de extensão por dois metros e trinta centímetros de altura, cuja maior parte das inscrições de sulcos largos, profundos e muito bem polidos, está abaixo de uma linha horizontal de cento e doze pontos capsulares.
Martin (1985, p. 510) descreveu que de todas as inscrições brasileiras conhecidas, a Pedra do Ingá é certamente a mais interessante e a maior de todas. No centro do pedregal, um enorme bloco de gnaisse de vinte e quatro metros de largura por três metros de altura estrangula o rio, que corre formando pequenas cascatas. O lado Norte[8] da pedra está coberto totalmente de inscrições até uma altura de dois metros e meio e uma linha contínua insculpida de pontos capsulares de cinco centímetros de diâmetro, enquadra a parte superior da inscrição.
________________________________
[8] Na verdade é a face Leste do monólito principal do Ingá que se encontra totalmente coberto por inscrições.
Martin
(2013, p. 225) explicou que, nas interpretações dos grafismos estão refletidos
o universo que conhecemos e não o universo indígena que representam e que, não
conhecemos. Experiências etnográficas realizadas sobre os possíveis
significados dos grafismos geométricos, observaram numerosas interpretações que
cada grupo indígena atribui aos seus próprios desenhos, muitas vezes grafismos
semelhantes entre as tribos, mas com significados totalmente diferentes. É
preciso cuidado ao nomear certos grafismos universais, encontrados em regiões
muito afastadas entre si e que, podem ter infinitos significados, pois a
universalidade de centenas de grafismos, semelhantes ou até iguais em várias
partes do mundo, levaram muitas vezes a comparações fantasiosas com antigas
escritas universais. A tendência atual entre os arqueólogos é descrever o que
há, o que se pode ver, procedendo-se análises mais técnicas do que
interpretativas das representações rupestres, que procurem saber como os
grafismos foram feitos, quais foram os recursos materiais utilizados e
principalmente, quais os grafismos que podem ser considerados como
representativos de uma determinada tradição rupestre.
Pessis
(1993) pesquisando a relação entre o perfil gráfico e o grupo social em
registros rupestres dos sítios arqueológicos da região de São Raimundo Nonato,
no Piauí, concluiu que, a definição de uma identidade cultural física, é uma
construção que dispõe da cultura material e do discurso que legitima o seu
valor simbólico. Para a arqueóloga, no estudo da pré-história, dispõe-se da
cultura material e do objeto vestigial, sem a presença humana e sem o discurso
explicativo, portanto, sem explicações de significados, assim, atribuir
significados ao mesmo tipo de cultura material, é uma tarefa arriscada pelo seu
caráter polissêmico; então, trabalha-se com significados e componentes da
identidade cultural que, podem ser diferenciados pela valorização dos traços
culturais dos seus autores e da memória coletiva que reforça a tradição.
No painel vertical do monólito principal
do Ingá, muitos símbolos pairam sob uma extensa linha de capsulares que o
emolduram, delimitando e separando, o painel vertical principal da laje
horizontal superior (BRITO, 2013).
Brito (1988, p. 30) contou cento e
catorze pontos capsulares na citada linha, enquanto Brito (2013, p. 15) que, fez
a contagem repetidas vezes e computou apenas cento e doze pontos capsulares,
argumentou que, o jornalista Gilvan de Brito (1988) para dar credibilidade a
sua conjectura, de ali haver um calendário lunar e uma multiplicidade por três,
registrou cento e catorze pontos capsulares. Desse impasse é possível observar
que, o número de cento e catorze pontos capsulares, citado por Brito (1988) foi
o mesmo descrito por Alfredo Coutinho, pesquisador do Centro Brasileiro de
Arqueologia, na década de 1960. Sendo assim, não parece insensato supor que, os
dois pontos capsulares não estão mais visíveis e poderiam ter desaparecido pela
ação das intempéries.
Brito (1988, p. 38) escreveu que, antes
do início da referida linha de capsulares, da esquerda para a direita, aparecem
formas assemelhadas a densas nuvens que, favorecem tempestades, seguidas
adiante do que parece ser uma embarcação. Mais adiante ao longo da linha de
pontos capsulares, encontram-se na opinião dos habitantes do Ingá, a
representação de um navio que navega com boa parte do casco sob as águas. Mais
à frente seguindo a linha, encontra-se o navio sobre as águas, como que
encalhado, seguido pelo glifo de um pássaro que, remete ao mito bíblico sobre a
pomba que foi libertada por Noé e retornou à nau com um ramo verde de planta
preso ao bico. A inscrição que se segue na linha de pontos capsulares é
semelhante a um dólmen e não tem identificação lógica para o povo que, acredita
ser uma referência ao fim do dilúvio. Segue-se um pouco adiante uma lua em
crescente acompanhada de um conjunto de oito pontos capsulares e por fim,
aparece na linha de pontos capsulares uma última inscrição, que se assemelha a
uma cruz ansata egípcia invertida ou a um espelho de vênus invertido.
Imagem 15: a
“chuva celestial” e o “mito do dilúvio” nas inscrições do Ingá.
Foto por Antonio Leite Júnior em Ingá, Paraíba, Brasil.
Brito (1988, p. 37) afirmou que, a destruição do
mundo por um dilúvio faz parte de todos os registros históricos de povos em
todo o mundo. Em todos esses relatos, houveram sobreviventes que após longa
viagem pelos mares iniciaram o repovoamento da Terra. Foi assim na Suméria,
onde o dilúvio é contado em um poema épico conhecido como, a epopeia de Guilgamech, escrito em pequenas tábuas
encontradas no início do século XX que, contam uma catástrofe provocada pela
ira dos deuses. Esse poema narra a história de Utnapishthin que, teria escapado do cataclisma com sua família e
muitos animais. O dilúvio e a viagem de Noé, por sua vez, são contados no sexto
e sétimo capítulos do livro de Gênesis na Bíblia, no Mahabharata indiano com Baisbasbata;
na mitologia grega com Deucalião; com Tamendonare
e Ariconte nas Américas; Coxcox no México e Yima no Irã.
Brito (1988, p. 37 - 39) procurou
investigar todas as informações possíveis com os habitantes da região do Ingá,
sobre as lendas e crendices do povo e contou que, entre os moradores, há
pessoas que admitem a existência do dilúvio e garantem que a narrativa bíblica
de Noé, pode ser observada nas inscrições rupestres da linha superior de
capsulares que, emolduram as inscrições do monólito principal do Ingá. Brito
(1988) escreveu que, conta essa mesma lenda que a queda de um corpo celeste ou
a passagem de um cometa, teria provocado as chuvas torrenciais que, levaram uma
família inteira a ocupar um barco, aventurando-se sobre as águas, repetindo o
mito bíblico de Noé e desembarcando nas imediações do Ingá, onde esses
viajantes teriam abandonado a sua embarcação que, ainda hoje pode ser vista, na
fronteira entre as cidades de Umbuzeiro na Paraíba e Orobó em Pernambuco, a
“Pedra do Navio” a qual, imita perfeitamente um navio em pedra, da popa a proa,
marcando o local da chegada.
Imagem 16:
pedra do navio
Disponível em: < https://blogmanuelmariano.blogspot.com/2011/06/Pedra-do-navio-bom-jardim-pe.html>.
Brito (1988, p. 39) considerou que, uma viagem
deixando o Atlântico, para tomar o rio Paraíba, depois subir por um dos seus
afluentes até o Ingá ou as proximidades da “Pedra do Navio”, contada na lenda
da tradição oral local, seria totalmente possível alguns milênios atrás, quando
as águas eram caudalosas, como se pode comprovar ainda hoje pelas larguras dos
leitos desses rios. No entanto, considerou que não seria possível que os
visitantes fossem fenícios, porque a escrita fenícia, difere totalmente das
inscrições do Ingá.
Brito
(1988, p. 28 - 29) descreveu como segue o conjunto de petróglifos que iniciam
as inscrições no painel vertical do monólito principal das Itaquatiaras do
Ingá:
O
painel vertical tem no início das gravações, uma figura curiosa de difícil
identificação. São quatro semicírculos sobrepostos, que diminuem de tamanho à
medida em que ascendem, encimados por uma linha cheia em posição vertical.
Abaixo, uma linha que extrapola os limites dos semicírculos, de onde pendem
quinze traços verticais. Mais abaixo,
complementando o conjunto, dois capsulares cheios, ligados por uma linha
vertical, formando um bloco homogêneo de formas equilibradas e linhas bem
definidas, artisticamente. [...] Os primeiros símbolos encontrados no início do
painel vertical mostram singular beleza e perfeito equilíbrio dos traços:
acima, um retângulo dividido em oito partes, tendo abaixo uma figura estelar de
seis pontas. Mais abaixo, como no conjunto superior, outra figura estelar,
sendo esta de oito pontas [acompanhadas acima por seis capsulares cheias.] Mais
abaixo, vemos quatro capsulares cheios e uma figura alada [tendo acima uma espiral
no sentido horário.] (BRITO, 1988, p. 28–29)
Pinto
(1993, p. 45) denominou de “pequena lápide” ou “tábua da lei”, o conjunto de
petróglifos que marcam o início das inscrições no painel vertical principal do
monólito do Ingá, dividindo o painel vertical em três lápides: a lápide inicial
ou pequena lápide, a lápide central ou lápide principal e a lápide final.
Imagem 17: conjunto inicial de petróglifos do painel vertical do Ingá
Foto por Antonio Leite Júnior em Ingá, Paraíba, Brasil.
Pinto (1993, p. 122 – 123) argumentou
que, o glifo do “pantáculo do pássaro” na lápide inicial tem o sentido místico
e religioso da manifestação do santo espírito de Deus, pois a pomba significa o
poder, a força e a elevação da vida espiritual.
Brito
(1988, p. 60) observou que, no painel vertical do monólito principal das
Itaquatiaras do Ingá, estão gravadas logo no início das inscrições, uma espiral
voltada para a direita no sentido do giro dos ponteiros de um relógio e no
final do painel, uma outra espiral aparece em sentido antihorário, como se
abrissem e fechassem a mensagem contida no conjunto das inscrições.
Pinto
(1993) sugeriu que, as espirais inicial e final no painel vertical do monólito
principal das Itaquatiaras do Ingá, marcam o início e o fim de um ciclo de nascimento,
vida, morte e ressureição da vida descrito no painel vertical do monólito.
Brito (2013) por outro lado, diferente de Brito (1988) e de Pinto (1993), não julgou que as espirais gravadas, no início e no final, das inscrições do monólito principal das Itaquatiaras do Ingá, marcassem o início ou o fim de qualquer mensagem.
Foto por Antonio Leite Júnior em Ingá, Paraíba, Brasil.
Brito (1988, p. 35 - 36) identificou o petróglifo da “balança do Ingá”, como um símbolo análogo a balança do julgamento, usada na pesagem do coração dos mortos no antigo Egito, antes da sua entrada nos domínios de Osíris e cogitou a possibilidade de serem as Itaquatiaras do Ingá, o túmulo de um ilustre visitante que, ensinou aos indígenas novos conhecimentos ou, um templo religioso onde os nativos homenageavam seus mortos e fez uma comparação entre o petróglifo da “balança do Ingá” e o papiro de Quena.
Foto por Antonio Leite Júnior em Ingá, Paraíba, Brasil.
Pinto (1993, p. 110 - 112) concordou com Brito (1988) na sua interpretação quanto a correspondência do petróglifo da “balança do Ingá”, com a balança do ritual dos mortos no antigo Egito. A autora admitiu o petróglifo da “balança do Ingá”, como um símbolo da criação e como um símbolo astrológico mágico-religioso, pois para autora, os signos representam a vida conforme o seu desenvolvimento no cosmos, por isso são aplicados analogicamente à vida humana e servem de modelo ao processo de iniciação.
Imagem 20: papiro de Quena.
Disponível em: < https://www.semanticscholar.org/paper/WS.B-(Usabtis)-Royano/0709875904050f9d41c48d306951b94996985e0a/figure/7>.
Por outro lado, algumas inscrições do Ingá têm sugerido comparações com letras de alfabetos antigos, fato que ocorre em inscrições indecifradas por todo o mundo, gerando às vezes, falsas interpretações (BRITO, 1988; BRITO, 2013; MARTIN, 2013; PINTO, 1993).
Brito (1988, p. 31) registrou em seu livro que: “Nesse conjunto do painel central a letra ‘m’ aparece repetida em várias estilizações, abertas, fechadas, encurvadas e viradas ao contrário, mostrando três ou quatro pernas”.
Imagem 21: petróglifo ao modo da letra “m”.
Foto por Antonio Leite Júnior em Ingá, Paraíba, Brasil.
Brito
(2013, p. 121) por sua vez, também descreveu entre as inscrições do monólito
principal das Itaquatiaras do Ingá, sinais ao modo das letras “n”, “m”, e “I”.
Pinto
(1993, p. 37) defendeu que, a letra “m” do ponto de vista esotérico, sempre
esteve relacionada com o elemento água e a ideia da mãe primordial, Eva. A
autora acredita que esta seja a significação essencial daquelas estilizações de
linhas curvas, independentemente de serem ou não, sinais da letra “m” e
escreveu que, desconhece que um tipo de letra “m” semelhante a letra do
alfabeto latino, exista em algum alfabeto antigo supondo que, caso sejam mesmo
as inscrições do Ingá representações da letra “m”, a forma minúscula sob a qual
se apresentam, revela uma época não anterior ao século IX da era cristã e por
conseguinte, seus autores tinham conhecimento da escrita latina e mantinham ou
teriam mantido contato com o mundo cristão.
Brito (1988) e Brito (2013) destacaram entre as
representações fitomorfas uma inscrição formada por pontos capsulares ornados
acima por uma coroa que, no conjunto remete a imaginação a uma “espiga de
milho” ou a um “abacaxi” e à direita dessa, uma representação curvilínea que,
lembra a estilização do “agave” e cujas fibras são largamente usadas na manufatura
de cordas, embora, também possa tentar representar um “pé de abacaxi”.
Para Brito (2013) reconhecer possíveis
elementos faunísticos e florísticos do ambiente no painel do Ingá possibilita
reforçar a suposição de que, aqueles sinais são manifestações de povos nativos,
onde as práticas da caça, da coleta e da agricultura eram vitais para a
sobrevivência.
Imagem
22:
supostos glifos fitomorfos no painel vertical do monólito principal do Ingá
Foto por Antonio Leite Júnior em Ingá, Paraíba, Brasil.
Para
Brito (1988) na antiguidade diversas divindades assumiam a forma de animais,
assim as representações zoomorfas podem tentar representar algum culto
religioso. Significava ainda a crença na possibilidade de transformação dos
homens em animais.
Martin
(1975) considerou que, a identificação principalmente de serpentes e lagartos
nos registros rupestres, por si só, não estabelece relações entre áreas
culturais, já que esses animais formam uma fauna comum, a qual o homem nativo
estava habituado.
Para
Martin (1975) as Itaquatiaras, particularmente no Ingá, estariam relacionadas a
mitos da mãe das águas que vive no fundo dos rios e a cultos generalizados
entre os indígenas desde o Amazonas ao Nordeste do Brasil voltados para o
jacaré e os lagartos.
Na verdade, existem duas representações de lagartos no painel vertical do Ingá, o “grande lagarto” e o “pequeno lagarto” (BRITO, 2013). Na imagem abaixo vê-se o “grande lagarto” ou “grande calango” do Ingá.
Imagem 23: um dos supostos “calangos” do Ingá.
Foto por Antonio Leite Júnior em Ingá, Paraíba, Brasil.
Brito (2013) percebeu nos baixos relevos
do painel vertical do Ingá gravuras semelhantes a pegadas de animais nativos,
identificando num recanto central do painel um sinal tridentado que lhe pareceu
tentar representar a pegada de uma ave, provavelmente uma ema. Achou ainda
símbolos semelhantes as marcas dos cascos de um animal biungulado, ou seja, de
cascos fendidos em duas unhas, talvez um veado.
Observou ainda um glifo semelhante a pegada de um canídeo, talvez um
lobo guará, um outro glifo semelhante a pegada de um felídeo, além de um sinal
semelhante a pegada de uma anta.
A inscrição triangular abstrata na
imagem abaixo é supostamente um glifo edícula[9]. À
esquerda do observador depois dela, vê-se o “pequeno lagarto” e à esquerda
desse, o grafismo formado por capsulares unidas que, de acordo com Brito (2013)
assemelha-se a pegada de uma anta.
_______________________
[9] O glifo foi popularizado pelos
nativos do lugar como a “igreja do Ingá”.
Imagem 24: suposto glifo edícula, “nave espacial’ ou “dama da aristocracia[10]
Foto por Antonio Leite Júnior em Ingá, Paraíba, Brasil.
Martin
(2013, p. 292) analisando o uso e o significado dos sítios com arte rupestre,
afirmou que os muitos paredões e abrigos pouco profundos do Nordeste do Brasil,
não serviram como lugar de habitação pela falta de condições, assim o artista
limitou-se a pintar e gravar suas paredes. A arqueóloga continuou afirmando
que, em geral, quando os abrigos ornamentados foram utilizados como lugares
cerimoniais, não eram simultaneamente ocupados como habitação. A moradia
daqueles grupos humanos seria em aldeias, fora dos abrigos adornados. Noutros
casos, os sítios rupestres foram utilizados simultaneamente como lugar de culto
e cemitério.
No
vale do Seridó do Rio Grande do Norte, de forma geral, os abrigos oferecem
condições inadequadas para habitação e aparentemente, foram usados pelos grupos
humanos pré-históricos como locais cerimoniais, tendo as escavações
arqueológicas demonstrado que, alguns desses, eram também usados como
cemitérios (MARTIN, 1989; MARTIN & ASÓN, 2000).
Pinto (1993, p. 187) transcreveu o
comentário de Francisco Octávio da Silva Bezerra e Alfredo Coutinho de Medeiros
Falcão sobre um simbólico petróglifo, publicado no artigo “A pedra lavrada do
Ingá; Monumento a ser investigado”, da Revista Brasileira de Arqueologia,
número 1, em julho de 1964:
A nosso ver, aí
estão entalhadas duas figuras humanas entrelaçadas dando a ideia de estarem
abraçadas. Pode-se observar que uma das figuras humanas, a da direita se
apresenta com o corpo esguio, isto é, corrido (seria figuração masculina?).
Enquanto a da esquerda mostra a região ventral um tanto desenvolvida (seria
feminina?). Sob a figuração, destaca-se uma grande capsular e, um pouco mais
abaixo, duas outras pequenas capsulares ligadas (PINTO, 1993, p. 187).
Imagem 25: glifo com antromorfos supostamente abraçados[10].
[9] Ver página 49.
[10] Parece sensato sugerir que o glifo pode tentar representar uma cena sexual.
Pinto (1993, p.12) concluiu que, os obreiros do Ingá eram de origem judaica, embora já influenciados pelo cristianismo e pelo Islã, pois sabe-se que, os berberes costumavam escrever seus símbolos mágicos nas grutas e nas rochas próximas das águas e que, sempre foram um povo de feiticeiros, embora não fossem de construir templos.
Entre os signos antropomorfos
representados no painel vertical do monólito do Ingá, Brito (2013) destacou a
gravura de um ser humano com as mãos elevadas ao céu, em um suposto ato de
louvação ou adoração.
Observa-se na imagem abaixo que, o conjunto de cinco capsulares à direita do antropomorfo em ato panegírico, bem acima do petróglifo de um retângulo dividido em quatro partes, assemelha-se a pegada de um felídeo[11], talvez a onça pintada. Na mesma imagem, à direita do antropomorfo, bem abaixo do retângulo dividido em três partes, cinco capsulares formam um glifo semelhante a pegada de um canídeo[12], talvez um lobo guará.
Imagem 26: antropomorfo em suposto ato panegírico.
Foto por Antonio Leite Júnior em Ingá, Paraíba, Brasil.
Brito (1988, p. 29) descreveu assim a “laje final”
no painel vertical do monólito principal do Ingá:
No final do painel vertical encontra-se
um conjunto formado, no centro, por três ramos apoiados num semicírculo, tendo
as pontas das linhas ligeiramente encurvadas e voltadas para cima uma
ramificação de três pontas. À esquerda uma meia lua apoiada numa linha
vertical, abaixo à direita dois capsulares soltos lembram dois olhos e outro
bipartido, acima (BRITO, 1988, p. 29).
Esse último glifo descrito por Brito (1988) como
“bipartido” assemelha-se a um caju.
Para Pinto (1993, p. 171) o conjunto do “arbusto de
três ramos” aparece como elemento principal entre quatro símbolos,
apresentando-se como uma réplica da árvore da vida. Assim o petróglifo do
“arbusto de três ramos” insere-se no contexto de uma inscrição funerária que,
estaria representando essas qualidade em referência ao inumado, além de
representar sua ascensão ao céu.
[11] Sugestões feitas por Brito (2013).
[12] Sugestões feitas por Brito (2013).
Imagem 27:
a “lápide final”.
Foto por Antonio Leite Júnior em Ingá, Paraíba, Brasil.
Brito (2013, p.86) em seu estudo comparativo das
Itaquatiaras na Paraíba, selecionou vinte e cinco sítios arqueológicos da
tradição Itaquatiara nas regiões da Borborema e Agreste paraibanos, copiou e
apresentou em seu livro, os símbolos dessas Itaquatiaras em observação direta
ao natural, objetivando demonstrar que as Itaquatiaras do Ingá são produto de
uma tradição gráfica pré-histórica nativa e desmistificar a ideia de que, as
Itaquatiaras do Ingá estão sós, sendo um modelo rupestre estranho à Paraíba. A
escolha do autor pela Pedra do Ingá deu-se por sua fama internacional, pelo uso
de uma técnica aprimorada que, pode sugerir ser, o estágio mais elevado de uma
vasta cultura rupestre que evoluiu ao longo dos séculos, além da diversidade de
signos no monumento e justificou ainda a sua escolha citando o acautelado
estudioso Balduíno Lélis que, com larga experiência e muitos anos dedicados à
Pedra do Ingá, a elege como parâmetro para o estudo das demais inscrições:
Sejamos pois práticos e objetivos:
desçamos, portanto ao exame puro e simples das inscrições através do monólito
do Ingá, é a maior e a melhor representação dessas lapidares, tornando-a como
protótipo de visão comparativa das demais (BRITO, 2013, p. 86).
De acordo com as observações de campo de Brito
(2013), na Paraíba a maior concentração de petróglifos estão nos vales do
Sabugi e Seridó, seguidos do Brejo, Taipu e do Araçagi, ocorrendo ainda, porém
sem predominância, nos Cariris Velhos, Agreste, Santa Rosa e Curimataú, sendo
que, praticamente todo o limite da Paraíba com Pernambuco tem se mostrado
estéril em inscrições da tradição Itaquatiara.
Martin
(2013, p. 290) disse que, na região do Seridó, conjuntamente com abrigos
rupestres das tradições Nordeste e Agreste, registram-se meia centena de sítios
com petróglifos gravados nas rochas do rio Carnaúba e dos seus afluentes, entre
os quais é possível identificar grafismos muito semelhantes aos das
Itaquatiaras do Ingá, tanto pelos desenhos como pela técnica de raspado e
polimento utilizados. A concentração maior dessas gravuras está no Riacho do
Bojo, na Cachoeira do Cruz, nas nascentes do rio Timbaúba, no Riacho Fundo, na
Cachoeira do Pote e no Bico da Arara, todos tributários do rio Carnaúba. Também
nos "tanques", locais rochosos nos cursos d'água intermitentes que a
acumulam e conservam na época de estiagem, topônimo muito repetido (Tanques de
João Gomes, Tanques de Cabritos, Tanques do Marimbondo, etc.), localizados nos
tributários da bacia do Carnaúba e a presença de gravuras é também bastante
comum na bacia do Seridó, onde o nome "Cachoeira das Pinturas"
designa repetidos sítios com gravuras, nos locais aonde os rios se encontram
formando quedas d'água. Em Picuí e Pedra Lavrada, na Paraíba, a relação de
sítios registrados com gravuras, situados nos cursos fluviais é extensa,
estando algumas dessas inscrições registradas no manuscrito de José Azevedo Dantas,
“Indícios de uma Civilização Antiquíssima”, como a grande inscrição de Pedra
Lavrada, destruída para fabricação de paralelepípedos, e que poderia ser, pelo
desenho que se conserva, a mais próxima das inscrições do Ingá.
Brito (2013) concluiu que, os petróglifos paraibanos
por ele estudados revelaram evidentes analogias com as inscrições nas
Itaquatiaras do Ingá, demonstrando que, esse famoso monumento rupestre é um
elemento no contexto de um conjunto litófilo, sem dúvida de origem ameríndia e
cujos significados se perderam com o desaparecimento da arcaica cultura que os
criou. Para o historiador, as Itaquatiaras do Ingá estão filiadas a uma herança
cultural, interligada por princípios básicos e genéricos à cultura. Contudo,
lembrou que apesar da Pedra do Ingá demonstrar configurações notavelmente
semelhantes às de outras Itaquatiaras, ainda não se explicou o motivo pelo qual
nas Itaquatiaras do Ingá, apresenta-se com maior riqueza estética e grafia mais
conjunta e profusa.
Brito
(20013) supôs que, os símbolos rupestres nas Itaquatiaras do Ingá devem
simbolizar ideias distintas que eram compreendidas pela coletividade de povos
nativos que, por muito tempo, dominaram uma grande área geográfica das Américas
e que, compunham o mesmo horizonte cultural ou tradição.
Brito
(2013, p. 12) sugeriu que, em quase todos os recantos do Nordeste do Brasil,
existem inscrições rupestres, cuja semelhança e familiaridade gráfica com os
registros do Ingá parece evidente. Para o autor esse fato indicaria serem os
glifos um fenômeno sociocultural ameríndio, porque se fossem um testemunho
estrangeiro e ocasional, não ocupariam tão vasto território. Muitos povos
diferentes criaram as tradições, os estilos independentes ao longo de milênios,
assim a arte gráfica e plástica pré-histórica não poderia ser obra de um só
povo.
Para
Martin & Asón (2000) a abundância de petróglifos conhecidos como
Itaquatiaras que, aparecem sobre as rochas ao longo dos cursos d’água e de
pinturas rupestres de outras tradições ou horizontes culturais, indicam a
presença de grupos étnicos diversos na região. Os achados de pontas de lanças
finamente retocadas, de sílex, calcedônia e cristal de rocha, desconhecidos em
outras regiões do Nordeste do Brasil, apontam para grupos de caçadores com
refinada tecnologia lítica que, ocuparam a região em tempo ainda incerto e com
ampla dispersão na bacia do Piranhas-Açu.
Para
Martin (2013, p. 228) o estudo do simbolismo é um grande desafio, na medida em
que, depara-se com a dificuldade de definir o não visível. A procura do oculto
que está por trás do registro gráfico é terreno fértil para interpretações sem
lógica e abrigo da ignorância. Na falta de outros caminhos elaboram-se tabelas
e gráficos de ocorrência que nada ou muito pouco desvendam, limitadas à satisfação
ingênua de que se fez algo científico. Um caminho objetivo no estudo da
iconografia, pode ser começar pelo micro analítico das características técnicas
do registro, seguido do estudo das estruturas arqueológicas da ocupação do
sítio e do seu entorno ecológico, para assim poder-se configurar os grupos
étnicos e seu habitat em relação aos
registros rupestres, tidos como a representação gráfica de uma linguagem e de
um pensamento que, se relacionam e se modificam de acordo com as condições
materiais da sua existência. Impõe-se também estabelecer-se comparações entre
as diferentes tradições rupestres e dedicar especial atenção ao estudo das
estruturas arqueológicas, tratando de entender o sítio ou, os sítios
arqueológicos, como habitat de um
grupo, do qual as manifestações rupestres são apenas o indício e o caminho,
para se chegar as suas estratégicas de sobrevivência e ao seu mundo espiritual.
Deve-se, também, ampliar o universo conceitual da arqueologia de um sítio, para
o campo mais amplo da arqueologia de uma área.
Martin
(2013, p.525); Pessis et al (2019) acham que, o maior erro está em se querer
encontrar, por todos os meios, um significado e quando o sinal não se parece
com nada animado ou inanimado, recorrer-se à comparação com sinais igualmente
misteriosos. Acha também que não se pode considerar esses petróglifos como
manifestações puramente artísticas, impõe-se a intenção mágico-religiosa e a
magia não é acessível a todos. O grande poder da magia reside no mistério que,
é patrimônio apenas de iniciados. Somente o bruxo ou feiticeiro conhecia o
significado daqueles sinais, que sem dúvida nenhuma têm um significado. A
arqueóloga acredita que a explicação do significado mágico-religioso é a mais
verossímil e que, inclusive, os petróglifos foram deliberadamente realizados
com uma intenção cabalística, procurando fazê-los incompreensíveis a qualquer
estranho que não pertencesse à tribo ou ao grupo dos não iniciados na magia da
mesma.
Já Faria (1987, p. 52) descreveu que, em 1975, a arqueóloga
espanhola Gabriela Martin no artigo “Estudos para uma desmitificação dos
petróglifos brasileiros”, publicado na Revista de História da Universidade de
São Paulo, admitiu que os glifos do Ingá foram “deliberadamente realizados com
uma intenção cabalística” pelo povo Cariri, “procurando torná-los
incompreensíveis a qualquer estranho que não pertencesse à tribo ou ao grupo de
não iniciados na magia da mesma”, defendendo portanto, a ideia de que as
inscrições do Ingá fazem parte de um monumento mágico-religioso dos índios Cariri
que, habitavam o Planalto da Borborema na pré-história. No mesmo ano, sua
orientanda, a arqueóloga Ruth Trindade de Almeida sugeriu em um artigo que as
inscrições das Itaquatiaras do Ingá são um ritual para a chuva (BRITO, 2013).
O
fato dos sinais da tradição Itaquatiara serem observados frequentemente em
contato com a água, permitiu o surgimento da crença que, as Itaquatiaras do
Brasil estão relacionadas ao culto da água (AGUIAR, 1982; SANTOS, 2005).
Para
Martin (1975, p, 524) não há dúvida que os petróglifos têm uma significação
religiosa, e que o rio seria, com certeza, um lugar de culto. Somente quem
conhece a imensidão e a pobreza dos sertões do Nordeste brasileiro pode
compreender a importância, a magia, quase milagre que significa um curso d'água.
Por outro lado, não é novidade que os rios sempre tenham sido lugares sagrados,
em todas as civilizações antigas, da mesma forma que o sol, a lua, os astros ou
as forças da natureza.
Pinto
(1993, p. 9) imaginou que aos olhos dos artífices do Ingá, o ambiente bucólico
do sítio com a presença do rio, dos caldeirões, do monólito principal e das
demais rochas que, tão habilmente souberam moldar, fazendo um inteligente labor
daquilo que a natureza lhes oferecia, deve ter-se mostrado o ideal para
realização de ritos cerimoniais e iniciáticos com a água.
Para Aguiar (1982), Brito (2013) e Martin (2013), os petróglifos das
Itaquatiaras do Ingá, aparentemente não representam sinais de um sistema
alfabético de escrita conhecido. Poderiam ser uma protoescrita, pois no
conjunto de inscrições do Ingá a disposição dos símbolos testemunham muito
pouco em favor de uma escrita, nesse caso, seria necessário encontrar
repetidamente os mesmos grupos de ícones correspondendo a palavras idênticas, o
que não acontece, pois não existem séries de símbolos que sigam uma mesma
ordem, nem os registros foram separados por um espaço ou por um sinal
convencional que sugira uma leitura sistemática. Além disso, não há evidências
que indiquem o começo ou o fim da inscrição, o que decididamente não se
harmoniza com a ideia de uma escrita. Depois, uma vez que as
inscrições da pedra foram feitas nos
cursos d’água, não há possibilidade alguma de escavações arqueológicas. Pode-se
por assim dizer que, o tempo já não está mais nas Itaquatiaras do Ingá, se
esvaiu.
Martin (1975, p, 511) buscou a interpretação mais
lógica para os sinais de Ingá e seus congêneres brasileiros sabendo-se
preliminarmente que não se trata de uma escrita, porque nenhum povo primitivo
do continente sul-americano utilizou sistema gráfico para expressar seu
pensamento. Qualquer um que, diante das insculturas do Ingá, tentasse encontrar
semelhanças com letras fenícias ou hieróglifos egípcios, daria apenas mostras
de ignorância ou de alienação científica, bem como, não é preciso ser um
especialista em paleografia, profundo estudioso de línguas mortas e alfabetos
antigos, para que se perceba que os petróglifos de Ingá não são uma escritura,
que os sinais não seguem nenhuma ordem, simetria ou relação de tamanho entre
si, além do que são pouco repetidos.
Os
autores das inscrições nas Itaquatiaras do Ingá são até agora um enigma e
muitas hipóteses foram levantadas por diversos estudiosos do mundo inteiro.
A fama das Itaquatiaras do Ingá estende-se pelo imaginário, pelo místico e muitas
relações surgiram entre as Itaquatiaras e as comunidades da região, pois os
nativos contam antigas histórias de seus antepassados que, narram por ali
existir um reinado encantado. Esse achado remete para antigas crenças indígenas
que podem ter permanecido, porém transformadas com novos sentidos, personagens
e representações nas memórias e no imaginário dos moradores locais. Sobre isso,
estudos antropológicos apontaram para crenças antigas em espíritos que
proporcionam as condições de vida na Terra, os quais habitariam as pedras
(BRITO, 2013; CATOIRA & AZEVEDO NETO, 2018).
Para
Martin (2013, p. 284); Pessis et al. (2019, p. 36) parece ser evidente que a
maioria dos petróglifos ou Itaquatiaras do Nordeste do Brasil, estejam
relacionados com o culto das águas. Para Martin (2013) é natural que, nos
sertões nordestinos de terríveis estiagens, as fontes d'água fossem
consideradas lugares sagrados, mas o significado dos sinais e o culto ao qual
estavam destinados são desconhecidos. Muitas dessas inscrições fazem pensar em
cultos astronômicos das forças da natureza e do firmamento, pois possíveis
representações de astros são frequentes, assim como a existência de linhas
onduladas que parecem imitar o movimento das águas. Martin (2013, p. 284)
escreveu que, o culto das águas e o culto aos astros são crenças universais que
podem produzir representações semelhantes entre grupos em estágios culturais
diferentes, além disso, é importante notar que, trata-se de uma tradição muito
difundida em toda a América do Sul, o que não implica que tenham sido feitas
pelos mesmos grupos culturais, inclusive podendo ter cronologias muito dispares
entre si e também não é raro encontrar Itaquatiaras em regiões agora áridas do
Nordeste e do estado da Paraíba.
Para
Martin (2013, p. 293) feiticeiros, pajés ou contadores de histórias, podem ter
sido os responsáveis pela transmissão do conhecimento e dos mitos somente
depois representados nas pedras. Contudo, a autora considerou que, os limites
científicos do conhecimento e da interpretação dos registros rupestres são
muito frágeis, na medida em que lidamos com o mundo das ideias, num período da
história humana do qual não se sabe muito e que, sem negligenciar o rigor
científico, não se pode negar o valor da imaginação nos caminhos da pré-história,
para evitar que se transforme numa árida relação de dados, sem atingir a
realidade humana, pois, de fato, quando se examina as diferentes teorias
arqueológicas ou antropológicas aplicada à pré-história, vê-se que a maioria
dessas percorre os terrenos da conjectura e das hipóteses, mais ou menos bem
formuladas, que permitem apenas uma aproximação relativa ao passado remoto da
história do homem.
Pinto
(1993, p. 7) escreveu em seu livro que, na remota história das ciências ocultas
o objetivo era atingir a perfeição pelo autoconhecimento do mistério de Deus.
Hábeis na arte da criptografia, os iniciados no ocultismo preservaram a
tradição em símbolos e alegorias, gravando na grandeza dos templos e na solidão
dos rochedos, as leis da vida e a história da criação. As ruínas que ainda
existem de antigos monumentos e a arte rupestre, em qualquer parte do mundo,
atestam a magnitude de uma obra cuja finalidade primordial era a recondução do
ser humano à sua identidade perdida, estando as pedras lavradas do Brasil inseridas
nesse contexto, como cenário de uma intensa atividade mágico-religiosa.
O museólogo Balduíno Lélis (apud BRITO,
1988, p. 85) em suas observações resumidas na publicação “Capítulos de História
da Paraíba” escreveu que:
[...]
já que pelo aprimoramento e simetria dos sinais, nos fazem acreditar, ou pelo
menos supor que, se tudo aquilo não representar uma protoescrita, pelo menos
nos leva a crer tratar-se de pedra votiva com finalidade elocubrativa ou, na
melhor das intenções, uma manifestação artístico-primitiva do seu próprio
universo cultural cheio de magia e intenções cosmogônicas o que nos convoca,
por final, a raciocinarmos como civilizados, compelindo-nos a preservar os
nossos monumentos transformando-os em memória para os que vierem depois destes
quatrocentos anos da Paraíba. E assim procedendo possamos agradecer aos
feitores do nossa proto-história, que nos presentearam as Itaquatiaras, o
exemplo de que um povo sem memória e sem passado jamais será uma nação no
futuro (BRITO, 1988, p. 85).
Brito (2013) disse que, na pedra do Ingá paira um ar
de mistério que lembra algo de ritualístico, de xamânico, de sagrado e embora
os símbolos gravados na pedra não tenham nenhuma evidencia de ser uma escrita
conhecida, parecem querer trazer da obscuridade o segredo acústico de um
passado longínquo que, reside latente em nós mesmos, uma vez que, as forças do
passado continuam vivas e exercendo influência sobre nós, no estudo desses
misteriosos petróglifos é preciso ir um pouco mais além da ciência e por isso,
mesmo que desejemos seguir à risca os métodos científicos, em nenhum momento
deve-se desprezar as dimensões empíricas, pois nessas repousa silenciosa a
essência de todo o conhecimento humano.
Nenhum
outro monumento rupestre do Brasil foi tema de tanto interesse de eruditos e
pseudocientistas na tentativa de decifrá-lo, porém tão negligenciado em
pesquisas científicas realizadas por arqueólogos profissionais. A complexidade
das Itaquatiaras do Ingá parecem exigir do arqueólogo respostas que, dificilmente
poderia dar, pois o monólito principal do Sítio Arqueológico do Ingá
isoladamente, fornece poucas informações sobre os grupos étnicos que o
ornamentaram e a época em que isso aconteceu. As Itaquatiaras representam a
imaginação simbólica de um ou de vários povos que, podem permitir traduzir as
relações travadas entre essas pessoas e entre essas e a natureza. Assim, para
as Itaquatiaras do Ingá, a arqueologia não é de grande valia, pois num ambiente
fluvial ao longo de milênios, a água carregou qualquer vestígios da cultura que
riscou a pedra, portanto o único dado acerca da civilização que ornamentou a
rocha são os próprios sinais na pedra. (ALMEIDA, 2009; BRITO, 2013; CATOIRA
& AZEVEDO NETO, 2018; MARTIN, 2013; PESSIS et al., 2019; PROUS, 2007; SANTOS,
2005).
Para
Gilbert Durand (1998 apud ALMEIDA, 2009, p.29) o passado se transforma quando é
interpretado, por isso, os registros rupestres das Itaquatiaras rompem o interdito, sendo usados para o
passado, o presente e o futuro. Para ele, todos os símbolos têm uma parte
visível e outra indizível. Assim, os integrantes de uma certa cultura, podem
criar novos significados e interpretações para seus símbolos, então, o símbolo
tem a habilidade de mudar de significado. Já a imaginação, aptidão inata de
criar, pode formar imagens de objetos inicialmente desapercebidos, ou
recombinar imagens conhecidas, mediante a reorganização de ideias, rotineiras
ou inéditas ao sujeito. Assim o devaneio, o sonho, a invenção, assim como as
crenças fantásticas e as superstições somente podem acontecer pela existência
da imaginação.
Por
outro lado, para Pessis et al. (2019) a tendência, verificada nas extensas
publicações da Pedra do Ingá, de se exigir que as gravuras rupestres, deem
respostas da tradição oral, não conduz a resultado científico. Não se chega
além de relatar histórias, narrativas possíveis que poderiam ter acontecido,
desde uma ótica subjetiva e, no contexto de uma mentalidade contemporânea, com
valores totalmente diferentes e significados que escapam a uma realidade
apreensível.
5 Considerações finais
Os
obreiros das inscrições nas Itaquatiaras do Ingá são até agora um enigma e
muitas hipóteses foram levantadas por diversos estudiosos do mundo inteiro.
O monólito principal do Sítio Arqueológico do Ingá isoladamente, fornece poucas
informações sobre o grupo ou grupos étnicos que o ornamentaram e a época em que
isso aconteceu, pois uma vez que as inscrições da pedra foram feitas nos cursos d’água, ao
longo de milênios, a água carregou qualquer vestígios materiais da cultura que
riscou a pedra.
As Itaquatiaras representam a imaginação simbólica
de um ou de vários povos ainda desconhecidos que, podem permitir traduzir as
relações travadas entre essas pessoas e entre essas e a natureza. Em quase
todos os recantos do Nordeste do Brasil, existem inscrições rupestres, cuja
semelhança e familiaridade gráfica com os registros do Ingá parece evidente.
Esse fato indicaria serem os glifos um fenômeno sociocultural ameríndio, porque
se fossem um testemunho estrangeiro e ocasional, não ocupariam tão vasto
território.
Os petróglifos paraibanos estudados revelaram
evidentes analogias com as inscrições nas Itaquatiaras do Ingá, demonstrando
que, esse famoso monumento rupestre não está sozinho, sendo um elemento no
contexto de um conjunto litófilo de origem ameríndia, filiado a uma herança
cultural, cujos significados se perderam com o desaparecimento da arcaica
cultura que os criou. Apesar disso, ainda não se explicou o motivo pelo qual
nas Itaquatiaras do Ingá, os glifos apresentam-se com maior riqueza estética e
um padrão particular em técnica de expressão e de conceitos simbólicos. Na
Paraíba a maior concentração de petróglifos estão no vale do Sabugi e Seridó,
sendo menos intensamente seguidas pelas regiões do Brejo, Taipu e do Araçagi,
ocorrendo ainda, porém sem predominância, nos Cariris Velhos, Agreste, Santa
Rosa e Curimataú. De modo geral, também todo o limite do estado da Paraíba com
Pernambuco, mostra-se estéril para a existência da tradição Itaquatiara e de
petróglifos.
Também
é muito difícil fixar cronologias para esta tradição de arte rupestre, não
havendo possibilidade alguma de escavações arqueológicas. Portanto o único dado
acerca da civilização que ornamentou a rocha são os próprios sinais na pedra,
pode-se por assim dizer que, o tempo nas Itaquatiaras do Ingá, se esvaiu. Entretanto,
existem algumas exceções quando as itaquatiaras se identificam com culturas de
caçadores, em abrigos próximos a rios ou em caldeirões, depósitos naturais rochosos
que se enchem d'água na estação das chuvas às vezes com as paredes cobertas de
petróglifos, nas proximidades dos quais tem sido realizadas escavações com bons
resultados. Outra exceção, o abrigo do Letreiro do Sobrado no vale do São
Francisco, em Pernambuco, com ocupações datadas entre mil e duzentos e seis mil
anos BP, relacionadas com indústrias líticas e fogueiras, onde foram coletados
fragmentos de rocha gravados. Do mais, os achados de pontas de lanças finamente
retocadas, de sílex, calcedônia e cristal de rocha, desconhecidos em outras
regiões do Nordeste do Brasil, apontam para grupos de caçadores com refinada
tecnologia lítica que, ocuparam a região com ampla dispersão na bacia do rio
Piranhas-Açu.
Muitos
estudiosos admitem o uso de pedra contra pedra, usando-se seixos e água,
friccionados em movimentos lineares ou rotatórios sobre a rocha, para a feitura
dos sinais nas Itaquatiaras do Ingá. Na prática da arqueologia experimental, muitas inscrições das
Itaquatiaras do Ingá foram reproduzidas em blocos de gnaisse usando para isso,
um seixo para friccionar e cavar os blocos e uma mistura de areia e água para
polir as inscrições, sem desperdiçar com esse trabalho, muito tempo ou esforço.
Os petróglifos das Itaquatiaras
do Ingá, não representam sinais de um sistema alfabético de escrita conhecido,
pois os
sinais não seguem nenhuma ordem, simetria ou relação de tamanho entre si, além
do que são pouco repetidos e nesse caso, seria necessário encontrar
repetidamente os mesmos grupos de ícones correspondendo a palavras idênticas, o
que não acontece. Além disso, nenhum povo primitivo da América do
Sul utilizou sistema gráfico para expressar seu pensamento. Os símbolos
rupestres nas Itaquatiaras do Ingá podem simbolizar ideias distintas que eram
compreendidas pela coletividade de povos nativos que, por muito tempo,
dominaram uma grande área geográfica das Américas e que, compunham o mesmo
horizonte cultural ou tradição.
Analisando-se
o uso e o significado dos sítios com arte rupestre, notou-se que, os muitos
paredões e abrigos pouco profundos do Nordeste do Brasil, não serviram como
lugar de habitação. Em geral, quando os abrigos ornamentados foram usados como
lugares cerimoniais, não eram simultaneamente ocupados como habitação. A
moradia daqueles grupos humanos seria em aldeias, fora dos abrigos adornados.
Noutros casos, os sítios rupestres foram utilizados simultaneamente como lugar
de culto e cemitério.
Não
é novidade que os rios e as fontes d'água sempre tenham sido lugares sagrados
em todas as civilizações antigas, da mesma forma que o sol, a lua, os astros ou
as forças da natureza. Assim, as evidências levam a acreditar que a maioria dos
petróglifos ou Itaquatiaras do Nordeste do Brasil, estejam relacionados com o
culto das águas. Muitas dessas inscrições também fazem pensar em cultos das
forças da natureza e do firmamento, pois possíveis representações de astros são
frequentes, assim como a existência de linhas onduladas que parecem imitar o
movimento das águas. O culto das águas e o culto ao cosmos são crenças
universais que podem produzir representações semelhantes entre grupos em
estágios culturais diferentes, inclusive podendo ter cronologias muito dispares
entre si.
Também
não se pode considerar esses petróglifos como manifestações puramente
artísticas, impõe-se a intenção mágico-religiosa e a magia não é acessível a
todos. O grande poder da magia reside no mistério que, é patrimônio apenas de
iniciados. Feiticeiros, pajés, caraíbas ou contadores de histórias, podem ter
sido os responsáveis pela transmissão do conhecimento e dos mitos, somente
depois representados nas pedras. É natural que as fontes d'água fossem
consideradas lugares sagrados, mas o significado dos sinais e o culto ao qual
estavam destinados são desconhecidos. Os glifos das Itaquatiaras do Ingá, pretenderam
os indígenas arremedar aos padres missionários nas aldeias, no tempo da
colonização do Brasil, mas não se entendeu até agora a sua significação.
O estudo do simbolismo é um grande
desafio, na medida em que, depara-se com a dificuldade de definir o indizível e
não visível. A procura do oculto que está por trás do registro gráfico é
terreno fértil para interpretações sem lógica e abrigo da ignorância. Na falta
de outros caminhos elaboram-se tabelas e gráficos de ocorrência que nada ou
muito pouco desvendam, limitadas à satisfação ingênua de que se fez algo
científico. Sem negligenciar o rigor científico, não se pode negar o valor da
imaginação nos caminhos da pré-história, para evitar que se transforme numa
árida relação de dados, sem atingir a realidade humana, pois, de fato, quando
se examina as diferentes teorias arqueológicas ou antropológicas aplicadas à
pré-história, vê-se que a maioria dessas percorre os terrenos da conjectura e
das hipóteses, mais ou menos bem formuladas, permitindo apenas uma aproximação
relativa ao passado remoto da história do homem. Uma vez que, as forças do
passado continuam vivas e exercendo influência sobre nós, no estudo desses
misteriosos petróglifos é preciso ir um pouco mais além da ciência e por isso,
mesmo que desejemos seguir à risca os métodos científicos, em nenhum momento
deve-se desprezar as dimensões empíricas, pois nessas repousa silenciosa a
essência de todo o conhecimento humano. Assim procedendo, possa-se agradecer
aos feitores do nossa proto-história que nos presentearam as Itaquatiaras, pois
expressam o ensinamento de que um povo sem memória e sem passado, jamais será
uma nação.
A educação patrimonial pode usar lendas e mitos para promover a cidadania sobre o patrimônio arqueológico nas memórias e identidades da sociedade, colaborando para que a memória permaneça viva e o patrimônio preservado. As ações de apropriação do patrimônio cultural devem envolver questões como memórias, identidades, informações e conhecimentos para que o patrimônio seja percebido como elemento cultural, parte da história e dos antepassados da comunidade e não apenas como um fator econômico ou mercadológico. Tão pouco para que sirva apenas como objeto de estudo para cientistas os quais, não detêm a verdade absoluta, contribuindo para formar nos jovens o pensamento que a pedra do Ingá não é muito mais do que uma indecifrável e antiga pedra velha riscada.
Referências
AGUIAR, Alice. Tradições e Estilos na Arte Rupestre no Nordeste Brasileiro. CLIO - Revista de Pesquisa Histórica. Recife: UFPE, v. 05, n. 01, p. 91-104. 1982.
ALMEIDA, Maria Tereza Santana da Costa Rodrigues. A Pedra do Ingá: A reprodução do mito, a reprodução da fé, Brasil. Dissertação de Mestrado. João Pessoa: UFPB, 2009. 117 p.
ALMEIDA, Ruth Trindade de. Um sítio arqueológico histórico. CLIO: Revista de Pesquisa Histórica. Recife: UFPE, v. 03, n. 01, p. 61-63. 1980.
BRASIL. Decreto-Lei Nº 25 de 30 de novembro de 1937. Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional. Disponível em: < http://portal.iphan.gov.br/uploads/legislacao/Decreto_no_25_de_30_de_novembro_de_1937.pdf>. Acesso em: 20 jul. 2021.
BRASIL. Lei 3.924 de 26 de julho de 1961. Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos. Disponível em: < http://portal.iphan.gov.br/uploads/legislacao/Lei_3924_de_26_de_julho_de_1961.pdf>. Acesso em: 03 jul. 2021.
BRAZILIAN CULTURE. Lula Cortês & Zé Ramalho “Paêbirú”. 2021. Disponível em: <http://www.brazilcult.com/lula-cortes-ze-ramalho-paebiru>. Acesso em: 14 jul 2021. 22:48h.
BRANDÃO, Ambrósio Fernandes. Diálogos das Grandezas do Brazil. Brasília: Senado Federal. v. 134. 338p. 2010. Disponível em: < http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=38018>. Acesso em: 26 set. 2021.
BRITO, Francisco de Paula. Análise de gravuras rupestre pré-históricas das bacias hidrográficas do Espinharas/Sabugi/Quixauá – Barra Nova no Seridó Ocidental – RN. Recife: UFPE, dissertação de Mestrado em Arqueologia. Universidade Federal de Pernambuco. 2011. 123 p.
BRITO, Gilvan de. Viagem ao Desconhecido: os segredos da Pedra do Ingá: inclui outros registros rupestres. João Pessoa: UFPB, 1988. 118p.
BRITO, Vanderley de. A Pedra do Ingá - Itacoatiaras na Paraíba. 6ª ed. Campina Grande: UFCG, 2013. 137p.
CASAL, Manuel Aires. Corografia Brasílica ou Relação Historico- Geografica do Reino do Brazil. Rio de Janeiro: Imprensa Régia. 1817. 332 p. Disponível em: < http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=38018>. Acesso em: 26 set 2021.
CATOIRA, Thais; AZEVEDO NETO, Carlos Xavier de. Itacoatiaras do Ingá: As diferentes ‘escritas’ no imaginário da Pedra das águas. Revista Anthropológicas. Recife, ano 22, v. 29, n. 04, p. 57-83, 2018.
DANTAS, José de Azevedo. Indícios de uma civilização antiquíssima. João Pessoa: A União, 1994.
D’ABBEVILLE, Claude. História da missão dos padres capuchinhos na ilha do Maranhão e terra circunvizinhas. São Paulo: USP. 1975. 297 p.
DANTAS, José de Azevedo. Indícios de uma Civilização Antiquíssima. João Pessoa: A União, 1994.
D’ÉVREAUX, Yves. História das coisas mais memoráveis ocorridas no Maranhão nos anos de 1613 e 1614. Rio de Janeiro: Fundação Darcy Ribeiro. 2009. v.4, 625 p.
FARIA, Francisco C. Pessoa. Os Astrônomos Pré-históricos do Ingá. São Paulo: IBRASA, 1987.
FERNANDES, Antonio Carlos Sequeira; FARIA, Felipe; ANTUNES, Miguel Telles. Manuel Aires de Casal, o beemote de Jó e o registro das ocorrências fossilíferas brasileiras no início do século XIX. Filosofia e História da Biologia. v. 8, n. 2, p. 133-150, 2013.
FUNARI, Pedro Paulo; NOELLI, Francisco Silva. Pré-História do Brasil. 4ª ed., 9ª reimpressão, São Paulo: Contexto, 2021. 112 p.
G1 MUNDO. Presidente da Argentina erra citação e diz que ‘brasileiros vieram da selva’, argentinos da Europa. 09 de junho de 2021. Disponível em: < https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/06/09/presidente-da-argentina-diz-que-brasileiros-vieram-da-selva-argentinos-da-europa.ghtml>. Acesso em: 16 nov. 2021.
GUIDON, Niède. A arte pré-histórica da área arqueológica de São Raimundo Nonato: síntese de dez anos de pesquisa. CLIO – Arqueológica. Recife: UFPE. n.2, 1985. 80p.
______. Tradições rupestres da área arqueológica de São Raimundo Nonato, Piauí, Brasil. CLIO Arqueológica. Recife: UFPE, n. 5, p. 5 -10. 1989.
IPHAN. Itacoatiaras do Rio Ingá (PB). 2014. Disponível em: < 03 jul. http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/895>. Acesso em: 03 jul. 2021.
KIYOTANI, Ilana Barreto; ARRUDA, Luciana Falcão; TAVARES, Amada. Arqueoturismo: o uso turístico das Itacoatiaras do Ingá/PB. Disponível em: < https://www.anptur.org.br/anais/anais/files/12/6.pdf>. Acesso em: 26 set 2021.
KOSTER, Henry. Travels in Brazil. 2ª ed., Londres: Longman, Hurst, Orme and Brown, 1817. 2 v.
LANGER, Johnni. Ruínas e mito: a arqueologia no Brasil império (1840-1889). Tese de doutorado em História. Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2000.
LICHOTE, Leonardo. A história do disco mais raro do Brasil, valendo até R$5 mil, é investigada em documentário. O Globo. 19/01/2011. Atualizado em 04/11/2011 - 05:22. Disponível em: https://oglobo.globo.com/cultura/a-historia-disco-mais-caro-do-brasil-valendo-ate-5-mil-investigada-em-documentario-2835615>. Acesso em 14 jul 2021. 20:43h.
LIMA, Flávia Pedroza; MOREIRA, Ildeu de Castro. Tradições astronômicas tupinambás na visão de Claude D’Abbeville. Revista da SBHC. Rio de Janeiro, v. 3, n. 1, p. 4-19, jan. - jun. 2005.
MARIA, Julio. Paêbiru, obra mais rara de Zé Ramalho e Lula Cortês, é relançado com fidelidade ao original. O Estado de São Paulo. 09 jun 2019. 03:00h. Disponível em: <https://cultura.estadao.com.br/noticias/musica,paebiru-obra-mais-rara-de-ze-ramalho-e-lula-cortes-e-relancado-com-fidelidade-ao-original,70002862018>. Acesso em; 14 jul 2021. 21:00h.
MARTIN, Gabriela; SANTOS JR, Valdeci. Santana dos Matos, Rio Grande do Norte, uma Pintura Rupestre Recuperada das Águas. CLIO Arqueológica. Recife: UFPE, v. 32, n. 2, p. 102 - 117. 2017.
MARTIN, Gabriela. Pré-História do Nordeste do Brasil. 5ª ed., Recife: UFPE, 2013. 406 p
______. Fronteiras estilísticas e culturais na arte rupestre da área arqueológica do Seridó (RN, Brasil). CLIO Arqueológica. Recife: UFPE, n. 16. 2003.
______; ASÓN, Irma. A tradição Nordeste na arte rupestre do Brasil. CLIO Arqueológica. Recife: UFPE, n. 14, p. 99-109. 2000.
______. O cemitério pré-histórico “Pedra do Alexandre” em Carnaúba dos Dantas, RN. CLIO Arqueológica. Recife: UFPE, v. 1, n. 11 p. 43-57. 1996.
______. Arte rupestre no Seridó
(RN): o Sítio Mirador no boqueirão de Parelhas. CLIO Arqueológica. Recife: UFPE, n. 2, p. 81-95. 1985.
______. Estudos para uma desmitificação dos petróglifos brasileiros. (I) — A Pedra Lavrada de Ingá (Paraíba). Revista de História - USP. São Paulo: USP, v. 51, n. 102, p. 509-537. Jun 1975.
METRAUX, Alfred. A Religião dos Tupinambás. São Paulo: Brasiliana, 1950. 430p.
______. A Ilha de Páscoa. Rio de Janeiro: Otto Pierre, 1978. 290p.
MOTA, Dennis. Pedra do Ingá – Blog. 19 dez. 2018. Disponível em <http://Pedradoinga.blogspot.com/>. Acesso em: 27 mar. 2020.
PESSIS, Anne-Marie. Do estudo das gravuras rupestres pré-históricas no Nordeste do Brasil. CLIO Arqueológica. Recife: UFPE, n. 5, p. 29-44. 2002.
______. Registros rupestres, perfil gráfico e social. CLIO Arqueológica. Recife: UFPE, n. 9, p. 8-144. 1993.
______. Apresentação gráfica e apresentação social na tradição Nordeste de pintura rupestre no Brasil. CLIO Arqueológica. Recife: UFPE, n. 5, p. 11-35. 1989.
______. Métodos de interpretação dos registros rupestres. CLIO Arqueológica. Recife: UFPE, n. 1, p. 99-107. 1984.
PESSIS, A.P.; MUTZENBERG, D.; CISNEIROS, D.; MARTIN, G.; MEDEIROS, E. Registro tridimensional georreferenciado do Sítio Arqueológico Pedra do Ingá, Ingá-PB. Revista FUNDHAmentos. Piauí: FUMDHAM, vol. XVI, n. 2. p. 35-72. 2019.
PINTO, Zilma Ferreira. Nas pegadas de São Tomé: um estudo dos símbolos da Pedra do Ingá: características judaicas, cristãs e islâmicas das inscrições. Brasília: Ideia, 1993. 265p.
PLATÃO. Timeu e Crítias ou A Atlântida. 1ª ed., São Paulo: Edipro, 2012. 192 p.
PROUS, André. Arte Pré-Histórica do Brasil. Belo Horizonte: C/Arte, 2007. 128p.
SANTOS, Juvandi de Souza. Estudando e Conhecendo a Pré-história. Campina Grande: EDUEP, 2005. 160p.
SCHEWENNHAGEN,
Ludwig. Fenícios no Brasil (Antiga
História do Brasil de 1100 a.C. a 1500 d. C.). 4ªed. Rio de Janeiro: Cátedra, 1986.
THEVET, André. As Singularidades da França Antártica. São Paulo: USP, 1978. 271 p.
THORON, Henrique Onffroy. Antiguidade da navegação do oceano. Viagem dos navios de Salomão ao rio das Amazonas, Ophir, Tardschiscli, Parvaim. Belém: Instituto Lauro Sodré - Biblioteca Virtual do Amazonas. 1905. 37p. Disponível em: < https://archive.org/details/AntiguidadeDaNavegacaoDoOceano.ViagensDosNaviosDeSalomaoAoRioDas/page/n1/mode/2up>.
VYASA, KRISHNA DVAIPAYANA. Bhagavad-Gita: Texto clássico Indiano. 1. ed. São Paulo: Edipro,
2019. 272 p.
WAGNER, Gustavo Peretti. O Público e o privado. n. 12 - Jul/Dez,
2008.